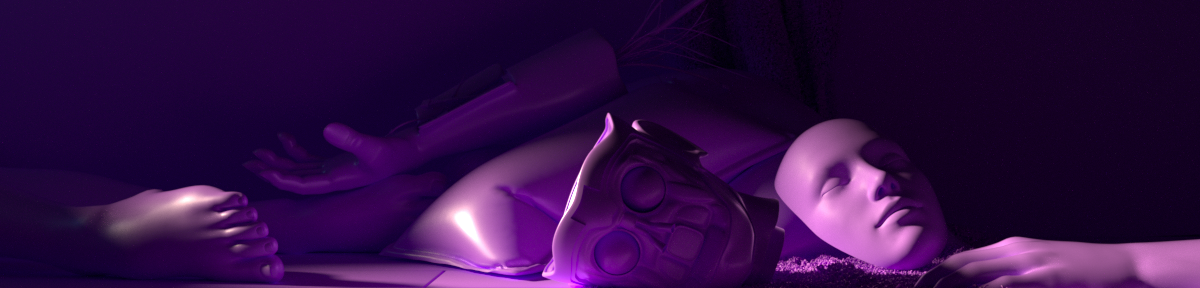O liberalismo sempre se debateu com a existência de sociedades multiculturais e, em particular, com o significado destas para a realização da ideia romântica do Estado-nação. É notável que se tenha vindo a perguntar se uma sociedade multicultural não viola a correspondência biunívoca entre uma jurisdição territorial e pessoal e a conjectura singular de valores e práticas socioculturais a que poderemos chamar de nação.
É acreditando no valor desta correspondência que os nacionalistas têm justificado a inclusão/exclusão política de indivíduos ou grupos com base em igualdades ou diferenças socioculturais, pelo que este debate permanece de suma importância para os nossos dias. Todavia, é fundamental ao pensamento liberal (pelo menos desde Mill [2008]) a observação do princípio da autonomia segundo o qual todos os indivíduos têm o direito a viver de acordo com a sua própria concepção do que é uma vida boa, de tal forma que o liberalismo não poderá por princípio opor-se à diversidade sociocultural que emerja autonomamente. De facto, em face de tal variedade sociocultural autonomamente formada, houve inclusive pensadores liberais a argumentar que grupos étnicos distintos no seio de Estados liberais requerem categorias específicas de cidadania, e, portanto, direitos etno-culturais, para que a sua inclusão seja justamente realizada.
A mais reconhecida defesa contemporânea da compatibilidade do multiculturalismo com os ideais básicos do liberalismo deve-se a Will Kymlicka [1989], para quem os direitos humanos se estendem aos direitos das minorias. O argumento de Kymlicka começa, como é comum ao liberalismo dominante, com uma demonstração de como o multiculturalismo se segue naturalmente do exercício de um direito universal à autonomia, assim como da compreensão de um princípio de igual preocupação e respeito por todos os indivíduos [Dworkin 1977:370], para depois argumentar que a preservação da autonomia dos indivíduos depende da existência (e zelo adequado) de direitos de grupos etno-culturais.
Neste ensaio quero demonstrar que o argumento de Kymlicka a favor de direitos para minorias é fundado num compromisso ontológico errado relativamente àquilo que é considerado necessário para preservar a autonomia dos indivíduos. Para este efeito revelaremos que o seu argumento contradiz o fundamento do seu próprio liberalismo por sugerir que o multiculturalismo característico das identidades cosmopolitas é sem valor, apesar de autónomo. Em causa está o facto de as identidades cosmopolitas serem comummente, mas erroneamente, pensadas como fragmentárias.
Ora, o argumento de Kymlicka [1989:164] começa com a observação de que o exercício da nossa autonomia, da escolha de uma vida que consideramos digna de ser vivida, é feito tendo por base ideais e formas de viver que nos são apresentados como resultado de esforços inter-geracionais – neste tanto seguindo Rawls [1971:563-4] –, aos quais chamamos cultura. Diz-nos Kymlicka que é uma “estrutura cultural” historicamente constituída e caracterizada por uma linguagem determinada que nos providencia um contexto de escolha com significado. E daqui conclui-se que à preservação da autonomia e da justiça é essencial a preservação destas mesmas estruturas culturais, bens primários dos quais depende o significado das nossas escolhas de vida.
Por outro prisma, as minorias estão sob maior risco de perderem as estruturas culturais que lhes permitem escolhas significantes, pois não têm poder nos órgãos do Estado para determinar essas mesmas estruturas; e como as desigualdades resultantes não são escolha sua e não podem ser alteradas mediante um mero acesso igualitário a bens materiais (contra a sugestão de outros liberais como Barry (2001]), é então necessário que lhes sejam concedidos direitos especiais que lhes permitam proteger as suas estruturas culturais (e.g. protegendo-as de integração por acomodação ou assimilação dentro dos Estados cuja jurisdição territorial partilham).
O argumento de Kymlicka, que prima facie me parece sólido, revela-se um non sequitur após reflexão acerca das variedades de multiculturalismo. Existem, pois, concepções comuns de multiculturalismo que têm como referência os limites do Estado [Mookherjee 2015:146]: diversidade dentro de uma cultura e pluralidade de grupos culturais dentro de uma população. Desafiando este panorama, o cosmopolitismo cultural [Caney 2005:6 e Waldron 1996 e 2000] introduz uma terceira forma de multiculturalismo: diversidade cultural ocorrendo num só indivíduo. Todavia, como deixou claro Jeremy Waldron [1996:90], o argumento de Kymlicka omite – provavelmente de forma inconsciente – o direito de um indivíduo escolher uma vida culturalmente cosmopolita, isto é, uma vida segundo normas culturais e práticas que são características de múltiplas culturas, desafiando a ideia de que pluralidade ou diversidade cultural ocorrem somente entre indivíduos provenientes de culturas tidas como homogéneas.
É importante deixar claro que uma vida cosmopolita é digna de ser vivida (Kymlicka [1995:85], pelo menos, concorda), pois há quem se oponha a essa dignidade, nomeadamente conservadores como o recentemente falecido Scruton, que numa lamentável entrada de dicionário [1982:100] definiu o cosmopolita como um indivíduo que parasita as vidas que outros criam (uma crítica tipicamente conservadora e tradicionalista já antiga, e comummente dirigida aos liberais em geral [Bowles 2011]).
A razão pela qual existe esta oposição ao cosmopolitismo deve-se não só à falsa percepção do cosmopolita como um puzzle mal-amanhado de fragmentos culturais que não lhe pertencem, mas também de uma idealização (e portanto falsa representação) das culturas (e nações) como nitidamente distintas entre si, puras, com fronteiras claras, e munidas de uma glória histórica. Qualquer antropólogo cultural olhará com suspeita o estatuto empírico de tais concepções, sendo conhecedor das porosidades das fronteiras existentes – se é que existem! – entre culturas que interagem diariamente, muitas vezes lado a lado, no seio de uma mesma família. Se alguma vez existiu uma cultura homogénea próxima deste ideário (quiçá no Japão ou na Nova Zelândia pré-coloniais), não poderá ter sido senão devido a contingências e isolamento geográfico ímpares [Waldron 2000:232].
Mas é também importante perguntar porque é que a construção de uma identidade cosmopolita nos deixaria fragmentados. O que impede o cosmopolita, por exemplo, de exercer a razão na articulação da sua mundividência cultural? Parece-me claro que é na ausência de tal articulação que poderá estar a origem de identidades culturais fragmentárias e perigosas. Considere-se a estranha dissonância cognitiva de um extremista como o Ayatollah Khomeini, que lançou uma fátua ao apóstata Salman Rushdie enquanto professava religiosamente o amor ao próximo. Porquanto este chauvinista nos poderá servir de exemplo de pureza ou homogeneidade cultural, então um contexto cultural do tipo desejado por Kymlicka por certo não é condição suficiente para uma vida respeitosa da autonomia.
Para todos os efeitos, Kymlicka [2007:99-102] opõe-se a estas idealizações, concordando explicitamente com Waldron [1992] acerca dos perigos de aspirações a culturas “puras” e até mesmo com a proposição de que o hibridismo, não o purismo, é a norma. O problema é que ao aceitar esta premissa ele não se apercebe de que também deveria ser obrigado a aceitar que não há uma “estrutura cultural uniforme” que deva ser protegida – a cultura é “fluida e evanescente” [Risse 2012:9-10].
Para além disto, os cosmopolitas não optam por viver uma colagem de fragmentos culturais dadas as opções conferidas pelas estruturas culturais que lhes forem providas; eles também combinam variantes culturais formando algo de novo, de facto introduzindo nova diversidade no mundo [Waldron 2000:231, n.11]. Mais que isso, porque haveremos de negar a possibilidade de criar novas variantes culturais de raiz, quais mutações mais ou menos aleatórias? Parece inclusive ser impossível explicar a variedade cultural aparente por uma combinatória de um número pré-definido de elementos existentes ab initio.
Surpreendentemente, Kymlicka adopta uma posição mais conservadora. Crente de que novas variedades culturais se podem provar fatais, argumenta paternalisticamente a favor do reconhecimento da legitimidade de um direito etno-cultural de prevenir novidades culturais, justificando assim a razoabilidade de constranger liberdades mediante práticas iliberais [Kymlicka 1989:170]. Não é claro, porém, se Kymlicka ainda mantém esta posição, dado que distinguiu mais tarde [1995:37] entre dois tipos diferentes de direitos colectivos – direitos de um grupo constranger os seus próprios membros, e direitos de um grupo minoritário que o protegem contra o poder de uma maioria –, e argumentou que os liberais se deveriam comprometer com protecções externas que promovam justiça entre grupos, mas rejeitar restrições internas, já que poderão limitar a própria auto-determinação dos membros do grupo (aquela que pressupõe a capacidade de questionar e rever o que as autoridades e a tradição prescrevem).
De uma forma ou de outra, o cosmopolita não tem de argumentar contra a existência de estruturas sociais, tal como não tem de argumentar a favor da criação de variedades culturais inusitadas. Novamente, o segredo está no exercício da razão: decisões autónomas deverão ser também razoáveis [Christman 2018:§3.4]. Se, para o cosmopolita, nenhum indivíduo precisa de uma estrutura cultural única na sua vida, o que importa é que a sua mélange cultural seja tão protegida quanto a vida cultural de outros indivíduos, não sendo menos valiosa que a destes (não só pela sua autonomia, mas também pela sua autenticidade [Taylor 1992]).
A breve troca de argumentos entre Kymlicka e Waldron é centrada na premissa de que “estruturas culturais” para “culturas sociais” são essenciais à nossa autonomia. Infelizmente, e apesar de central na sua teoria, Kymlicka nunca nos dá uma definição rigorosa destes conceitos. Sabemos que envolvem tanto práticas como instituições cujo escopo se estende tanto à vida pública como à privada. Tendencialmente, são concentradas num território, têm por base uma língua comum e partilham memórias e valores [Kymlicka 1995:76]. (Todas estas são características comuns das nações.) Mas além disso é óbvio que as identidades colectivas pressupõem ainda critérios para a sua atribuição: que pelo menos alguns membros do grupo internalizem esses critérios, i.e. que se identifiquem com eles, e que haja padrões comportamentais tipicamente adoptados entre os indivíduos desses grupos [Appiah 2005:66-9].
Diz-nos então Kymlicka [1995:80] que para que as diferentes culturas sobrevivam face às pressões homogeneizantes impostas pelos Estados-nação – e, historicamente, nenhuma doutrina parece ser mais responsável pela destruição de culturas que o nacionalismo –, estas facetas das estruturas sociais, por serem essenciais à autonomia, devem ser activamente protegidas. Os cosmopolitas culturais podem concordar parcialmente. O poder da institucionalização deixa claro que há de facto aspectos de culturas sociais dependentes de estruturas. De facto, pode ser argumentado que a própria possibilidade de uma cultura cosmopolita ou de cosmopolitas culturais é dependente da existência de certas estruturas (isto tornou-se claro ao longo da história, quando aspectos cosmopolitas de uma cultura, ou mesmo culturas minoritárias inteiras, se tornaram inadmissíveis devido à prática legalizada de ideais chauvinistas). O que os cosmopolitas terão de negar – por constituir em si mesmo a refutação da tese – é que qualquer cultura específica tenha de se encontrar numa correspondência biunívoca com estruturas culturais e culturas sociais para que se possa experienciar uma vida autónoma.
Quando escolhemos o tipo de vida que queremos viver, as escolhas que viermos a fazer serão mediadas por um contexto cultural parcialmente responsável pelo seu significado, mas daí não se segue que terá de haver apenas uma estrutura cultural responsável por esse significado [Waldron 1992:783-4]; argumentar que sim seria cometer uma falácia de composição [Waldron 1996:102]. Se Waldron estiver correcto, então, na melhor das hipóteses, Kymlicka consegue demonstrar que precisamos de acesso a culturas para fazer escolhas significantes para a nossa vida autónoma, mas tal não basta para afirmar que cada um de nós seja necessariamente membro de uma determinada cultura.
A resposta de Kymlicka [1995:102-3] é que a cultura a que os cosmopolitas têm acesso é um produto de estruturas culturais que estes demoraram a interiorizar. Mas isto é falso. Muitas normas e variantes culturais que conhecemos não provêm de culturas nacionais, nem todas as culturas sociais de onde elas provêm são estruturadas como Kymlicka pretende. De facto, ele acredita que é por lhes faltarem estruturas, ou por as suas estruturas serem ameaçadas, que às culturas sociais devem ser reconhecidos na prática direitos etno-culturais. Diz-nos Kymlicka que é somente a partir daí que estas diferentes comunidades culturais poderão então proteger as suas próprias estruturas, ou, quando não as têm, estabelecê-las, garantindo assim instrumentos que as defendam das pressões da modernização e ocidentalização. Mas seria obtuso argumentar que sem essas estruturas não existiria cultura.
Uma análise do raciocínio de Kymlicka, assim como do fenómeno do cosmopolitismo cultural, revela o que para alguns poderá ser surpreendente: um direito etno-cultural é tão necessário como um direito à liberdade de afiliação religiosa. As pessoas não precisam de enculturação no seio daquelas culturas em que os seus antepassados fizeram as suas vidas, nem no seio de apenas uma cultura social em particular [Waldron 1992:762 e 2000:228].
O cosmopolita poderá argumentar que os Estados deverão apoiar a autonomia dos indivíduos, que poderão optar por uma determinada cultura nacional, mas nenhum Estado deveria apoiar uma cultura nacional per se em particular (do mesmo modo que um Estado laico deverá manter o seu Estado de direito secular). De facto, esta conclusão está também em linha com o cosmopolitismo moral, para o qual os indivíduos e não a sua cultura são dignos de preocupação moral. A cultura importa, sim, porquanto importa para os indivíduos [Pogge 1992:48-9 e Appiah 2005:ix].
Parece-me, pois, que a noção de “integridade cultural” de uma cultura social está repleta de imperfeições e confusões. Kymlicka [1995:83] acredita que para compreender o significado de uma prática sociocultural é necessário partilhar da compreensão daqueles que a praticam no seio das suas culturas, com especial ênfase na linguagem e na história. Mas consigo pensar pelo menos duas razões para desconfiar desta asserção de dependência, razões essas que o cosmopolitismo naturalmente compreende. Primeira, nós partilhamos muito entendimento com culturas diferentes das nossas, quanto mais não seja devido à nossa humanidade partilhada, que nos liga a problemas comuns a todos [Parekh 2008:§2]. Segunda, somos perfeitamente capazes de atribuir significado a normas e práticas culturais alheias, mesmo que esse significado seja distinto daquele que exibem em virtude do contexto social de origem – noutras palavras, a polissemia é possível e não constitui nenhum mal em si, podendo inclusive resultar de dialécticas entre dois indivíduos com o desejo de mútuo entendimento (como decorre do modelo dialógico de Parekh [2002:272]). Na medida em que Kymlicka [1995:83] acredita que as culturas de facto não têm fronteiras determinadas conforme o desejo do tradicionalista, esta polissemia deveria ser-lhe querida, já que é bastante íntima a todos os que vivem nos limiares entre estruturas de culturas sociais.
Defender direitos para minorias culturais não é diferente de fazê-lo para maiorias nacionais, desde que sejam compreendidos não como direitos das culturas ou nações minoritárias, mas como direitos individuais a uma vida autónoma, que os indivíduos podem decidir determinar colectivamente, e para o exercício da qual precisarão de protecções contra os poderes das maiorias nos governos. De facto, estas protecções têm até de ser transnacionais, senão por vezes globais, pois como poderemos doutro modo proteger nações que se encontram distribuídas entre vários Estados (contíguos ou separados)? Que tipo de estrutura cultural poderia assegurar a sua protecção sem ser transversal à jurisdição dos Estados? Num mundo de Estados-nação, tanto o multiculturalismo como o cosmopolitismo enfrentam fragmentação.
Muito mais se poderia dizer acerca do multiculturalismo liberal e do cosmopolitismo cultural. Seria bom fazer justiça a argumentos liberais nacionalistas (e anti-cosmopolitas) que prezam o valor da associação cultural em si [Berlin 1980:257, Margalit & Raz 1990, Miller 1995, e Tamir 1995] e considerar uma possível resposta cosmopolita. Podemos dar por certo que a resposta à pergunta “que tipo de vidas devem ser vividas?” será complexa. Neste breve ensaio assumimos que o liberalismo está correcto ao dizer que devem ser os indivíduos a determinar que vidas serão essas. Mas, se assim for, os liberais também precisarão de tolerar aquelas culturas iliberais que alguns indivíduos escolherem viver. Todavia, em simultâneo, o liberal deverá querer manter a implementação de protecções externas para aqueles que escolherem romper com a cultura iliberal. O “caso Rushdie” é, neste sentido, querido tanto a um liberal multiculturalista como Kymlicka [1995:43] como a um liberal cosmopolita como Waldron [1992, 1996, e 2000].
Enfim, façamos paz com Kymlicka, que defendeu o alargamento dos nossos compromissos cosmopolitas na política global [Kymlicka & Straehle 1999] e se opôs à realização da ideia de Estados-nação, argumentando que estes não deveriam pertencer a culturas maioritárias [Kymlicka 2007:66]. Se, como os nacionalistas tendem a crer, é verdade que a nossa imaginação é determinada pela nossa familiaridade com certas culturas [Margalit & Raz 1990:449] ou que inteligibilidade mútua derivada de co-nacionalidade resulta em maior solidariedade [Kymlicka 1995:90], imagine-se quão mais ricas poderiam ser as nossas imaginações e a extensão da nossa solidariedade se experienciássemos outras culturas ao longo da nossa educação. Esta é a ideia fundamental do chamado “cosmopolitismo sentimental” [sensu Long 2009], que tanto cosmopolitas [e.g. Rorty 1993, Nussbaum 1997, Appiah 2008, e Woods 2012 e 2013] como Kymlicka [2001] defenderam.
Agradecimentos: a Maria Dimova-Cookson pelos comentários a uma versão provisória deste artigo escrita na língua inglesa e a Henrique Fernandes pela extensa revisão de texto, que em muito melhorou a fluidez da leitura.
Referências bibliográficas
APPIAH, Kwame Anthony; [2005] The Ethics of Identity, Princeton University Press.
___; [2008] «Education for Global Citizenship», Yearbook of the National Society for the Study of Education, 107(1):83–99.
BARRY, Brian; [2001] Culture and Equality, Oxford: Polity Press.
BERLIN, Isaiah; [1980] «Benjamin Disraeli, Karl Marx, and the Search for Identity», in Henry Hardy (ed.), Against the Current, Princeton University Press.
BOWLES, Samuel; [2011] «Is Liberal Society a Parasite on Tradition?», Philosophy and Public Affairs, 39(1):46-81.
CHRISTMAN, John; [2018] «Autonomy in Moral and Political Philosophy», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/autonomy-moral/>.
DWORKIN, Ronald; [1977] Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press.
KYMLICKA, Will; [1989] Liberalism, Community and Culture, Oxford, UK: Clarendon Press of Oxford University Press.
___; [1995] Multicultural Citizenship, Oxford, UK: Oxford University Press.
___; [2001] «Education for Citizenship», in Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford: Oxford University Press.
___; [2007] Multicultural Odysseys, Oxford, UK: Oxford University Press.
KYMLICKA, Will & STRAEHLE, Christine; [1999] «Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature», European Journal of Philosophy, 7(1):65-88.
LONG, Graham; [2009] «Moral and Sentimental Cosmopolitanism», Journal of Social Philosophy, 40(3):317-342.
MARGALIT, Avishai & RAZ, Joseph; [1990] «National self-determination», Journal of Philosophy, 87(9):439-461.
MILL, John Stuart; [2008] On Liberty and Other Essays, John Gray (ed.), Oxford & New York: Oxford University Press.
MILLER, David; [1995] On Nationality, Oxford: Oxford University Press.
MOOKHERJEE, Monica; [2015 (2008)] «Multiculturalism» (pp.146-167), in Catriona McKinnon (ed.), in Issues in Political Theory, Third Edition, Oxford: Oxford University Press
NUSSBAUM, Martha; [1997] «Citizens of the World» (pp.50-84), in Cultivating Humanity, A Classical Defense of Reform in Liberal Education, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
PAREKH, Bhikhu; [2002] Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Basingstoke: MacMillan.
___; [2007] A New Politics of Identity – Political Principles for an Interdependent World, Basingstoke: Palgrave MacMillan.
POGGE, Thomas; [1992] «Cosmopolitanism and Sovereignty», Ethics, 103(1):48-75.
RAWLS, John; [1971] A Theory of Justice, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
RISSE, Mathias; [2012] On Global Justice, Princeton: Princeton University Press.
RORTY, Richard; [1993] «Human Rights, Rationality, and Sentimentality» (pp.111-34), in S. Shute & S. Hurley (eds), On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993, New York: Basic Books.
SCRUTON, Roger; [1982] A Dictionary of Political Thought, Palgrave McMillan.
STJERNFELT, Frederik; [2012] «Liberal Multiculturalism as Political Philosophy: Will Kymlicka», Dilemmas of Multiculturalism, in The Monist, 95(1):49-71. 16
TAMIR, Yael; [1995] Liberal Nationalism, Princeton University Press.
TAYLOR, Charles; [1992] «The Politics of Recognition» (pp.25-74), in A. Gutmann (ed.), Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton: Princeton University Press.
WALDRON, Jeremy; [1992] «Minority Rights and the Cosmopolitan Alternative», University of Michigan Journal of Law Reform, 25(3&4):751-93.
___; [1996] «Multiculturalism and mélange», in Robert K. Fullinwider (ed.), Public Education in a Multicultural Society: Policy, Theory, Critique, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
___; [2000] «What is Cosmopolitan?», The Journal of Political Philosophy, 8(2):227-43.
WOODS, Kerri; [2012] «Wither sentiment? Compassion, Solidarity, and Disgust in Cosmopolitan Thought», Journal of Social Philosophy, 43(1):33-49.
___; [2013] «Civic and Cosmopolitan Friendship», Res Publica, 19(1):81-94.