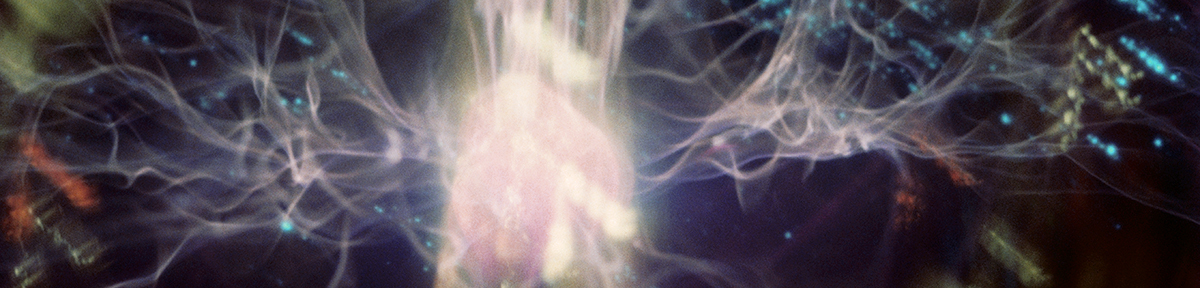O espaço latente é um espaço abstrato, próprio da formação das imagens virtuais. É um plano binário de encontros e desencontros de diferentes imagens que são constantemente alimentadas por uma rede neural e formada por diferentes arquivos digitais. É como um deserto formado por pequenos grãos ruidosos que constantemente colidem entre si e latejam. Durante estes processos de interações, estas partículas artificiais e abstratas adquirem as capacidades/competências de reconhecimento e de constituição de uma “memória” coletiva dessas mesmas influências recíprocas. Podemos designá-las por pequenos impulsos de memórias artificiais, que acabam por gerar e envolver diferentes características de formas, cores, texturas, contrastes e outros conjuntos latentes.
Formar ou traduzir uma fotografia para o campo binário significa que estamos a alimentar o espaço latente. Estamos a colectar, a depositar e a armazenar memórias, dados e outras características em estruturas virtuais e neurais, que simulam, interagem e se comportam como complexos organismos. Na possibilidade traduzir tudo em 0 e 1, todas as produções digitais possíveis podem traduzir-se e originar-se em tudo ao mesmo tempo.
No meu vídeo Close but not too close (2023) quis pôr em prática estes meus pensamentos que aqui exponho. Parti da fotografia de um horizonte com uma massa nebulosa, que serviu de referência para o algoritmo gerar novos horizontes semelhantes. Durante o processo, foram gerados vários horizontes semelhantes entre si, com diferentes nuances e com produção de novas formas que acabaram por ser características desse próprio tempo e espaço da imagem. Originou-se assim um arquivo de imagens-horizontes formadas no espaço latente, tendo a máquina aprendido a reconhecer, a criar uma memória coletiva na sua rede e, em consequência, a fundir o registo temporal da imagem inicial num novo tipo de tempo, marcado por uma constante queda, submersão e uma fluida continuidade. Não há mais passado, presente e futuro, mas sim um tempo latente onde a imagem é sempre pré-existente.
Este processo de transformação implica um tempo da imagem inicial que não pode ser considerado igual à fotografia inicial, pois trata-se de processos de formação completamente diferentes. Para Barthes, “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente.” (Barthes, 1980. p.13) A criação através do espaço latente gera resultados opostos àqueles de que Barthes nos fala em Câmara Clara. O que Barthes nos diz é antagónico destes novos horizontes ou destes processos fotográficos computacionais, que passam agora a representar uma reprodução ao infinito que ocorre em múltiplos planos e onde as distinções temporais se diluem num único espaço virtual.
A fotografia computacional é também uma resposta para a miniaturização da máquina e para a sua capacidade de produzir imagens fiéis ao que consideramos como real. No entanto, quão verdadeira é essa imagem? A produção dessas imagens ocorre no plano binário através de processos gerados por ruídos e por referências de outras imagens. Durante o disparo, o algoritmo dialoga com o espaço latente, onde referências semelhantes à imagem capturada e diferentes tipos de arquivos digitais gerados por outras pessoas, por outros olhares e com formas semelhantes ajudam a criar uma nova imagem. Mas será essa uma imagem verdadeira? Aquela fotografia de grupo ou memória registada da nossa mãe é também outras mães, já que é gerada por diferentes mãos, diferentes peles, diferentes narizes de que o algoritmo se alimenta. Arquivos de outros corpos, de outros olhares, que ajudam o deserto das partículas latentes a fazer um reconhecimento sobre a vida, transformando-se nela mesma num novo tipo de vida? Qual a real distância entre a visão, a lente e o objeto que fotografamos através da computação? Quão longe é longe?
Referência biblográfica
Barthes, Roland. 1980. A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70.