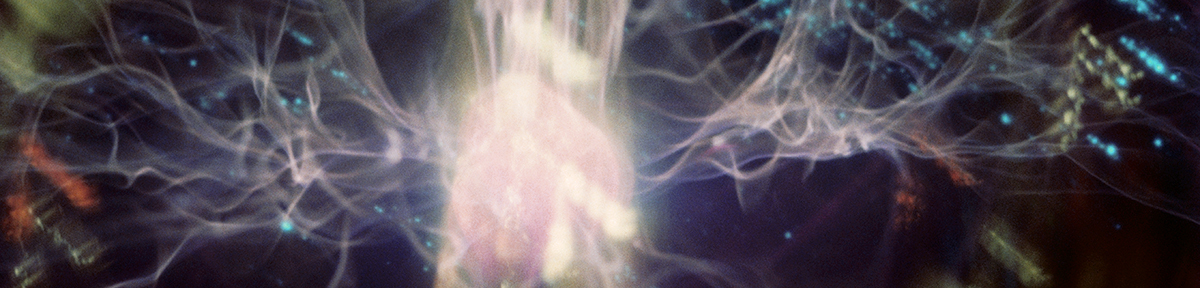Uma rajada de vento escaldante sopra sobre o deserto do Texas, onde um anel de megalitos de mármore negro brota do solo, como se fosse a boca de alguma criatura ancestral. De súbito, uma lua cheia consegue fugir às nuvens, e as oito pedras irregulares, cada uma emitindo um brilho azul fluorescente, começam a vibrar com um zumbido grave. Uma «pedra mãe» adjacente – identificável por um pesado painel solar amarrado às costas – transforma a energia solar absorvida em electricidade, comungando com o mármore concêntrico muito mais abaixo. À medida que mais energia eléctrica é disparada para o anel, o som começa a estirar-se, transitando para uma batida lo-fi techno sincopada. Tudo lembra simultaneamente a aura mística de Stonehenge e uma experiência semi-religiosa encontrada nalgum nível intermédio das entranhas do Berghain[1]. O Stone Circle de Haroon Mirza (2018) é, talvez, a obra mais site-specific dos Novos Místicos, uma prática que utiliza tecnologia avançada para invocar ideias místicas e pensamento mágico.
Desde os ambientes subaquáticos de Zadie Xa, que rastreiam os padrões migratórios das orcas até às simulações sencientes Shiba Inu de Ian Cheng, os Novos Místicos partilham uma estética psicadélica caracterizada por paisagens digitais tenuemente iluminadas, bandas sonoras ambientais, paletas em technicolor e simbolismo cósmico. Embebidas no interior desses mundos, há narrativas complexas vindas da ficção científica ou permeadas por elementos paraficcionais que misturam a experiência pessoal com gestos especulativos comunitários. Aqui, as fronteiras entre a memória e o inconsciente tornam-se maleáveis e porosas; o imaginário entrelaça-se com o real enquanto os sistemas se dissolvem e os egos se deslocam. As propriedades sensoriais da luz, da forma, do cheiro, do sabor e do som tornam-se ponte temporária entre o artista e o observador, abrindo um espaço elevado para a compreensão afectiva. Os Novos Místicos privilegiam a experiência multissensorial à explícita produção de conhecimento. Seria um erro, contudo, entender estas obras como um olhar nostálgico para tempos mais simples.
Pelo contrário, estes artistas usam o potencial atmosférico das novas tecnologias para ressuscitar antigos sistemas de crença retirados do seu contexto histórico, reposicionando-os como uma poderosa cifra comunitária do presente. No espaço interior das suas instalações, políticas de raça identitárias são exploradas, artes populares esquecidas são ressuscitadas e as superestruturas violentas do colonialismo e do capitalismo são criticadas. Enquanto o mundo e o microcosmos da arte que lhe é contemporâneo se debatem sob uma narrativa crescentemente dura que exponencia a discórdia, os Novos Místicos olham para o interior e para o alto para criarem um espaço generoso e generativo imbuído de magia.
Embora a tecnologia que usam seja muito recente, o anseio dos artistas por uma realidade alternativa não o é. Na ressaca colectiva da Segunda Guerra Mundial, uma corrente similar do vanguardismo emergiu da arte e das disciplinas que lhe estavam próximas. Os anos 1940 viram nascer as cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller: uma arquitectura futurista desprovida de colunas para ancorar a utopia tecnológica da «Nave Terra». No Japão dos anos 50, os performers que faziam parte do colectivo radical Gutai embrulharam os seus corpos em brilhantes lâmpadas technicolor e lançaram-se através de telas, rompendo literalmente através da tradição, rumo a uma nova forma de arte. Nos anos 70, Nova Iorque fez também a experiência de uma ruptura radical no mundo da arte, da performance ao cinema expandido, enquanto dissolução dos limites do cubo branco. Nos anos 1980 e 1990, a atenção deslocou-se da destruição dos limites para uma nova vivência colectiva. Poetas, pintores, arquitectos, o duo de artistas Madeline Gins e Arakawa procurou des-fazer a morte com a sua Fundação do Destino Reversível («Reversible Destiny Foundation»), sediada em Nova Iorque. Câmaras oscilantes de cores psicadélicas e projectos de paisagens ondulantes procuravam levar o visitante atordoado a um novo plano de consciência, onde todos poderíamos viver para sempre. Enquanto isso, nova-iorquinos sonicamente sintonizados que vagueavam em torno da Church Street podiam arrimar à Casa dos Sonhos da Fundação Mela, desenhada pela dupla de compositores-artistas La Monte Young e Marian Zazeela, que ofereciam um espartano e quasi espiritual quarto de luz e som, um espaço feito para nele nos perdermos.
Ainda que estes movimentos do século XX coincidam esteticamente com o trabalho dos Novos Místicos, existem algumas diferenças-chave. Os Novos Místicos investem mais na integração do misticismo com as questões contemporâneas. O seu trabalho será melhor compreendido como uma estratégia para-ficcional, não como um escapismo. Em segundo lugar, o místico tem vindo a transitar – ou a transcender – do seu abuso, no século XX, enquanto uma afecção simbolicamente apropriada pelos círculos artísticos do Ocidente, para um processo social interseccional no presente. (Em vez de um artista branco e masculino a exibir-se numa galeria de Manhattan com um coiote sob o rótulo da experiência xamânica, os artistas de cor podem reclamar e explorar a sua experiência da diáspora.) Por fim, a tecnologia usada pelos Novos Místicos tem a capacidade radical de criar novos mundos que, no essencial, estão desligados do lugar e do tempo, e são, por conseguinte, capazes – à semelhança das mitologias que os inspiraram – de serem ressuscitados num número quase infinito de contextos.
Situando-se nas margens do esquecido folclore coreano e da biologia marinha, a obra Child of Magohalmi and the Echoes of Creation (2019), de Zadie Xa, usa a estrutura familiar matrilinear das orcas como material para uma história multimédia da origem. A poesia dita e os interlúdios sónicos imitam aí os cliques e os guinchos subaquáticos das orcas, revisitando o mito da criação da Avó Mago, que esconjurou tanto as formas humanas como as da natureza a partir dos seus excrementos e da lama. Pude visioná-la em Londres, na Biblioteca Walthamstow, em Junho de 2019. Focos de luz azul iluminavam o cavernoso edifício Vitoriano, onde um mar de corpos se movia sob uma projecção da rebentação de ondas. Barbatanas dorsais em fibra de vidro emergiam do chão de carpete azul. A banda sonora ambiente transportava o espaço para uma atmosfera de sonho, que se misturava com a batida de um tambor em aproximação. Subitamente, entra uma procissão de performers envergando máscaras de baleias, os cabelos feitos de néon flutuando livremente e envergando elaborados trajes desenhados por Xa. Contorcem-se no chão, esgueirando-se por entre os espectadores, enquanto se movem em uníssono segundo algum arcano rítmico (talvez aparentado ao sonar), enquanto chamas azuis produzidas por computação gráfica acompanham imagens GIF das orcas a mergulhar no ecrã por trás. Através das suas performances psicadélicas, Xa quer voltar a abrir os mitos e as histórias culturais de minorias e mulheres apagadas pelos académicos masculinos. Uma vez que a peça foi representada em múltiplos locais, desde as bibliotecas públicas Carnegie à 58ª Bienal de Veneza, a sua ambição cresceu como se fosse uma criatura viva. Contudo, é inteiramente possível ficar subjugado pelo ritmo hipnótico da obra de Xa, como sucedeu a muitos naquela noite em Walthamstow, e deixar que o seu significado nos atravesse como uma orca que corta o mar, movida por alguma força ignota.
À imagem de Xa, Saya Woolfalk mergulha na mitologia através de indumentárias brilhantes que ganham vida própria. Desde 2009, a artista nova-iorquina, nascida no Japão, tem vindo a trabalhar numa série de obras intitulada As Empáticas (The Empathetics). Uma tribo imaginária de híbridos mulheres-plantas, desprovida de raça e dotada de uma hiper-sensibilidade para a compreensão interpessoal, as Empáticas (e o seu braço empresarial, a ChimaTEK), dá-se a ver em têxteis, vídeos e instalações escultóricas elaboradas, ou em trabalhos de Realidade Artificial e Realidade Virtual, colectivamente caracterizados por formas celestiais futuristas e uma paleta de cores psicadélica. Woolfalk, que vem de uma família de fabricantes de tecidos, mistura o seu conhecimento da confecção de figurinos com narrativas de ficção científica. Nos bosques do norte do Estado de Nova Iorque, ela conta a história de um grupo de mulheres que descobriu um esqueleto super-saturado, cujos ossos contêm um esporo genético que penetrou nos seus corpos e transformou-as em Empáticas. Uma nova espécie híbrida, com uma compreensão aguda da viabilidade financeira da empatia. O seu «quimerismo» permite-lhes cruzar espécies, géneros e raças, enquanto se vão movendo sem esforço por entre culturas humanas – uma perícia que está cosida nas suas indumentárias exo-esqueléticas, que incluem toucados em renda perlada, têxteis africanos, corpos celestiais pontilhados à maneira dos aborígenes e símbolos cósmicos.
Nas suas instalações, Woolfalk permite que os espectadores experienciem o mundo poderoso e psicadélico das Empáticas, conhecido como «ChimaCloud», através de uma app do iPhone. Usando software interactivo de Realidade Virtual que responde às indumentárias de Woolfalk, os espectadores podem observar como as Empáticas mudam de identidade num cenário de convalescença. Descrevendo a ChimaTEK como o resultado do seu interesse no que «acontece quando os sonhos utópicos se tornam mercadoria»[2], o projecto Empathetics visualiza extensões distópicas, num futuro próximo, da economia do bem-estar e de ideias transumanistas, tudo situado numa arena digital com grande apelo estético apesar do seu tema provocatório. Favorecidas pelas suas paisagens metamórficas hiper-cromáticas, as projecções ChimaCloud já haviam sido anteriormente instaladas no meio dos frenéticos painéis digitais da Times Square.
Dada a natureza da tecnologia com que trabalham, e a sua entrada, na prática, numa paisagem cultural pós-digital, os Novos Místicos estão prontos para a criação de mundos. Ian Cheng e Tabita Rezaire trabalham quase exclusivamente com os media digitais, criando realidades alternativas imersivas que são autónomas e simultaneamente críticas e efervescentes. Estes trabalhos/mundos parecem operar dentro de uma cronologia deformada que apenas faz sentido na era do rolar infinito (scroll). A elaborada trilogia de simulação codificada de Cheng, Emissários (Emissairies) (2015-17), por exemplo, coloca os seus espectadores no interior de uma onírica cena primordial construída com recurso a uma popular plataforma de desenvolvimento de jogos, a Unity. Enquanto o trabalho era exibido num espaço cubo branco, ele aumentou para a escala da vida real, os acontecimentos cósmicos e hápticos a desenrolarem-se em projecções gargantuescas com três metros de altura. Nesta escala, as personagens de Cheng — proto-humanos encapuçados e deuses shiba inu de três cabeças, cambaleavam, bêbados, em paisagens pós-apocalípticas – pareciam ser mais fascinantes. Mas aqueles que assistiram ao espectáculo em casa (que esteve disponível no Twitch ao longo da exposição inaugural de Emissaries no MoMA, Nova Iorque, em 2017) poderão ter feito a experiência de Emissaries no seu esquema temporal inicial: a hidra dilatada, ambiental e multiabas da internet. Descrevendo Emissaries como «um jogo vídeo que se joga a si mesmo»[3], Cheng compusera uma matriz na qual as suas personagens podem agir segundo a sua própria vontade, mas ainda dentro de um conjunto de parâmetros codificados. Podem ver-se detritos culturais contemporâneos, desde iPhones até espreguiçadeiras, espalhados por entre povoamentos e símbolos druídicos gravados na paisagem espectral. A cena é agressivamente, quase ironicamente, anacrónica, e nada se esforça por disponibilizar uma narrativa linear ou, pelo menos, legível. As personagens são igualmente opacas. Os seus movimentos são de tal modo inescrutáveis, o seu discurso a tal ponto balbuciado e infantil, que o trabalho se torna, num certo sentido, excruciantemente entediante. Ainda assim, há qualquer coisa de hipnótico na sua letargia de baixa definição que prende a nossa inteira atenção. Talvez seja a ordem cósmica nebulosa de Emissaries e o seu ritmo cambaleante que faz dela um tão poderoso sedativo. Ao sair da galeria (mas não quando se fecha o browser, porque o seu ritmo complementa na perfeição as expedições digitais), a coreografia das ruas parece, doentiamente, até violentamente, hiperactiva.
Premium Connect (2017), de Tabita Rezaire, adopta a velocidade esquizofrénica, a linguagem truncada e não sequencial da internet como tema e símbolo para desconstruir as narrativas coloniais opressivas em que está fisicamente apoiada (cabos de fibra óptica nos fundos dos oceanos, as entranhas da vossa conectividade 4G, que seguem as rotas comerciais estabelecidas na era colonial). A infraestrutura da internet está fundada no sofrimento negro, argumenta Rezaire, uma ironia cruel, considerando que as origens da ciência da computação se enraízam na mitologia africana e nos sistemas divinatórios. Na sua busca de uma nova «base de dados cósmica», invoca um mundo feito de gifs com falhas, ciência fraudulenta, mau Photoshop e SMS sensacionalistas. Num exercício de equilíbrio entre emulsão kitsch e crítica política agressiva, a prática de Rezaire reconcilia uma internet que propaga as estruturas de poder com um útero digital onde está em incubação uma nova internet.
Por muito empenhados nas novas tecnologias que os Novos Místicos estejam, eles não hesitam em recorrer a velhas estruturas arruinadas como materiais para a construção de alternativas futuras. As paisagens emergentes de Cheng são elaboradas sobre a miscelânea de detritos do velho mundo, enquanto Mirza, Rezaire e Woolfalk atacam as estruturas icónicas que moldam a nossa memória colectiva, desde Stonehenge e as pirâmides da Antiguidade até às cidades planificadas radialmente. Em conjunto, estes monumentos falhados, quando atravessados por narrativas de ficção científica ou paraficcionais, parecem sugerir uma segunda vida dos ideais utópicos de propriedade partilhada e vida comunitária. Seleccionados por causa do seu mistério, potencial simbólico e promessa, essas estruturas, talvez por causa, precisamente, do seu estatuto de ruína, apontam para uma possibilidade infinita de ressurreição como outra coisa e num lugar outro.
A mineração do passado em busca de futuros quasi-ficcionais não deveria ser automaticamente tomada como um sinal de alarme do dia do juízo final no presente. O encontro metafísico e a experiência mística remetem para a obtenção de um estado mais elevado de consciência colectiva. Uma vez aí, o objecto catalítico ou o cenário que nos levou até esse espaço quase deixam de ter importância. É certo que no mundo da arte irá parecer um pouco mais deleitoso, mais desejável, mas, em última análise, o trabalho dos Novos Místicos será melhor compreendido como um acto de teletransporte. Perfeita obra de engenharia da estética contemporânea, ela ergue-nos até um espaço onde é fácil imaginar um futuro mais comunitário, mais generoso e, é claro, mais místico.

Ian Cheng, Installation view of Thousand Lives, 2023, Pilar Corrias Gallery. Photo copyright Andrea Rosetti and courtesy of Pilar Corrias Gallery.

Ian Cheng, Installation view of Thousand Lives, 2023, Pilar Corrias Gallery. Photo copyright Andrea Rosetti and courtesy of Pilar Corrias Gallery.
Originalmente publicado na revista Mousse Magazine #69, tradução de Jorge Leandro Rosa