A Galeria, a vitrine
A Galeria das Artes do Edifício Florença, no centro da cidade de São Paulo, tem um certo ar de nostalgia. Não só porque a arquitetura e a fonte tipográfica da fachada do edifício estão em evidente contraste com as construções contemporâneas, mas também porque parte do seu comércio parece não seguir as tendências do que ocorre fora da passagem comercial. A loja de sapatos, seus pares de couro teso e saltos aquadradados, apresenta materiais e formas mais sóbrias que os neons e plataformas de plástico que pipocam ao redor do bairro da República. Gravatas listradas ou com pequenas estampas, penduradas solitárias numa das vitrines, dando a impressão de fazerem parte de um mostruário inócuo, de um comércio fantasma. Mas Maurício, o dono da loja, sempre vem reposicionar ou repor algum produto, o que me faz acreditar que “está dando retorno”, como dizem também outros comerciantes do número 127 da Rua 7 de abril. Contou que a maior parte das vendas são feitas pelo Instagram, e que seus clientes ajudam muito na divulgação e aumentam os negócios. No meio do tipo de mercadoria que parece caracterizar um sujeito mais do século passado do que deste — o tipo de sujeito que conserta impressoras, aparelhos de fax, e troca baterias de relógios — a única loja que tem clientela é um balcão de produtos eletrônicos. Em uma das vitrines, ficava o projeto arte_passagem, com organização e curadoria de Ilê Sartuzi e Matheus Chiaratti, onde o trabalho Mortinha foi exposto entre junho e agosto de 2019. Atravessando o largo corredor da Galeria, cruzamos da Rua 7 de abril à praça Dom José Gaspar.
A vitrine é de vidro — transparência que permite ver mas não permite acessar. Ao contrário de mostrar, ou de se mostrar, Mortinha esconde. No meio do comércio intenso de mercadorias, barracas do centro, na lógica turbilhante dos ambulantes, homens-placa, e, vitrines feitas para a exibição de seu conteúdo, o vidro é inteiramente coberto de preto. Isto é, com exceção de um recorte circular na altura padrão de centralização de pinturas em paredes institucionais (cento e cinquenta centímetros). Um peephole. De certa maneira, faz reverência aos panoramas e dioramas que por muitas vezes ocupavam as galerias de passagens do século XIX (BENJAMIN 2006, 574-575). O trabalho não faz nenhum aceno à atenção explícito, nem se dispõe de artifícios museológicos tradicionais, mas se construiu mobilizando a proposta de uma observação que depende da curiosidade do passante. Alguns desavisados foram avistados procurando alguma coisa ali dentro, e Ailson, ascensorista do edifício, relatou que muitos o perguntavam do que se tratava. Pois justamente interessa ao trabalho esse anonimato conferido pela situação, se camuflando no meio onde está, reforçado pela escolha de despir a instalação das indicações que seriam esperadas de uma obra em contextos mais tradicionais.
O primeiro interesse na vitrine da passagem foi construir uma narrativa para a visualização do trabalho: para ver é preciso procurar – e numa tangente do lado esquerdo, com a cara pressionada sobre o vidro, sua parte interna se mostra. A estratégia do olho mágico para um olhar concentrado exige do espectador um certo desconforto físico e talvez, transforme o olhar em voyeurismo. Daí também outro paralelo com o centro de São Paulo: as casas de prostituição, os cinemas pornôs, as cabines de dançarinas eróticas, que figuram no imaginário de quem circula pelo centro, ainda que não esteja implicado diretamente nessas práticas. Esse paralelo – que se dá na lógica do próprio trabalho e é intensificado por sua localização geográfica – começa a resvalar em algo caro à Mortinha: fetiche.

Mortinha, Flora Leite, 2019. Vídeo-instalação. Detalhe. Imagem: Ilê Sartuzi.
Se a obra acontece em uma vitrine comercial, escolho traçar a estrutura do fetiche a partir desse display de mercadorias. Para Walter Benjamin, a Paris do século XIX se configurava como fantasmagoria urbana, isto é: um espetáculo de lanterna mágica onde ilusões se misturavam e se transformavam, refletindo a imagem de pessoas como consumidores. É nesse contexto que o autor passa a considerar a mercadoria em display como força central de sua lógica: é na exibição de produtos dentro de uma vitrine que o valor de troca e o valor de uso perdem seu significado. No mostruário, o apagamento da força de trabalho é reiterado, e nesse jogo de espelhos das galerias e vitrines da cidade, as relações de classe se tornam quase invisíveis. Portanto, se o sucesso de mercado de um produto dependeria do apagamento dos índices de sua produção e sobretudo do apagamento da exploração do trabalhador, é sua exibição no mostruário que lhe confere seu último e tão importante verniz. É então seu valor de representação que vêm à tona, onde tudo aquilo que é desejado – do sexo ao status social – é transformado em produto, fetiches-em-display (BUCK-MORSS 1989, 81-82). E se a palavra fetiche vem de feitiço (MULVEY 1996, 61), nada parece mais adequado para descrever a imagem do mito que se impõe como objeto para o trabalho: a sereia.
Repetição e reencontro
Na mitologia grega, sereias são criaturas com corpo de pássaro e rosto de mulher. Seu canto sedutor na Odisseia não é só voz, mas também narração onisciente da própria história de Odisseu: as sereias, da ilha onde habitam, tudo cantam pois tudo sob o sol podem ver. Seu poder divino e fatal não lhes é conferido apenas através da qualidade de suas vozes, mas também através da retórica de seu discurso. Ao longo dos séculos, na tradição ocidental, a monstra híbrida foi perdendo suas penas, garras, e presas, sendo transformada em uma criatura de corpo lânguido com rabo de peixe, sedutora não só pelo canto, mas especialmente por sua beleza. Sua descida do ar às profundezas corresponde a um processo que a transforma em um corpo cuja voz é despida de discurso. O som que sai de suas gargantas é um timbre relegado à irracionalidade, ao choro, à inexplicável Natureza – todos constructos de arquétipos femininos na cultura patriarcal (CAVARERO 2005, 103-116) dentro da caracterização da mulher cisgênero. O que não foi perdido, no entanto, é seu caráter de ameaça – as sereias ainda são a imagem da femme castrice por excelência (CREED 1993, n.p.) nessa mesma cultura. Antes, cadáveres e ossadas de marinheiros eram avistados espalhados pela costa de sua ilha. Com o passar do tempo, o lugar para onde arrastam os homens afunda às profundezas do mar – seja porque naufragam seus navios ouvindo seu canto poderoso, seja porque são arrastados por seus enlaces sexuais em suas versões mais explícitas. Fundo do mar que é Eros e Thanatos – corpo feminino que é berço e é tumba (CAVARERO 2005, 108). E já que não há mar na cidade de São Paulo, resta às sereias de Mortinha um copo d’água como habitat – em uma operação de substituição, onde o conteúdo de aquários e dioramas é substituído pela imagem cinematográfica e televisiva (SAGAYAMA 2019).
Mortinha opera através de uma sucessão de clichês: diversas sereias de filmes, séries, e vídeos diferentes, de 1948 a 2019, foram encontrados todos em plataformas online e dali repirateados, se valendo da apropriação, operação frequente na arte contemporânea. Nossa sereia mais antiga, Lorena, interpretada por Ann Blyth em Mr. Peabody and the Mermaid (Universal Pictures, 1948), é quem vemos nadar em uma espécie de aquário agigantado, decorado com grandes conchas, árvores fazendo as vezes de corais marinhos, e réplicas de ruínas greco-romanas. Poderíamos conjecturar então se esses adornos, tão comuns aos aquários domésticos, arcadas e conjuntos de pilastras feitos de plástico, não seriam reminiscentes da mitológica Atlântida submersa. Trazendo não só um pedaço do oceano para casa – ou da ideia que temos dele -, mas arrastando junto a ele uma versão kitsch do imaginário mitológico das assim chamadas primeiras civilizações ocidentais. Dentro desse tanque de peixes decorado que a sereia passa a habitar, os trechos escolhidos são aqueles nos quais a vemos dar piruetas ou mergulhar diagonalmente em planos muito simples e curtos – pois nem sua expressão facial, nem o caráter preciso de época que o filme contém interessam ao trabalho. Interessa sim o que a imagem da sereia tem de mais comum: torso de mulher, rabo de peixe. Por isso também foram descartados materiais nos quais sereias protagonizam cenas de violência – a aposta do trabalho é, inclusive, a da reminiscência da estranheza desse mito, e talvez principalmente, nas suas versões dóceis. Também não era de interesse que o feitiço sob o espectador fosse interrompido pelo reconhecimento desta ou daquela atriz. Assim, Daryl Hannah em Splash! (Touchstone Pictures, 1984), figura no trabalho apenas de costas, em planos nos quais seu dorso é muito pouco visto, mas cujo movimento dos cabelos indica que não se trata de um peixe. Em filmes mais contemporâneos o material aproveitado também é muito restrito – especialmente porque técnicas de animação geradas por computador ainda contrastam excessivamente com o caráter mais concreto das fantasias manufaturadas dos outros filmes. Mas há uma das sereias que se torna o rosto de todas as outras, a única de quem vemos a face, e que também parece nos ver; não contracena com outro personagem, mas sim com a câmera e conosco: Teoxíope, da minissérie O Canto das Sereias (TV Manchete/1990), interpretada por Ingra Lyberato.
Mesmo muda, ou Mortinha, a sereia seduz. O plano próximo utilizado na montagem do vídeo do trabalho, quando a sereia encara o observador, é crucial – há ali uma sensação de encontro com o olhar do espectador, capturado pela criatura. E inversamente, a sereia também está capturada no copo d’água. Mas o desejo de vê-la – de novo, e mais – é também consequência da economia de montagem dos planos roubados. Nela, ela – a sereia, a imagem – aparece, roça, desaparece, volta em vulto, reaparece, uma cabeleira flamula, sorri, splash, uma cauda de peixe; somente em alguns lampejos temos certeza de que o que vemos é mesmo uma sereia. Parece que é o desejo de reencontro com ela que nos faz, enquanto espectadores, permanecer e retornar o olhar ao trabalho. Um objeto que pede que seja procurado, reencontrado, de novo e de novo, porque há algo nele que falta. Truques simples de montagem através dos quais a imagem completa da sereia só é formada momentaneamente, entremeado por repetições, reversões e escuridão. Compartilha a lógica do object trouvé: um objeto perdido que, nunca recuperado, é sempre procurado, sempre repetido (FOSTER 1993, 42). Tal repetição, esta do reencontro, é a repetição de planos sempre incompletos das sereias: quando seu corpo pode ser visto por inteiro, está escuro; quando podemos ver a cauda, falta-lhe o dorso; quando vemos seu dorso, restam apenas poucas escamas abaixo da cintura no limite do enquadramento; e quando há seu corpo completo, num mergulho rápido, não sabemos se é um peixe demasiado comprido. Algo sempre falta nessa imagem, é essa mesma falta que pulsa – ou o que a faz pulsar e dançar diante dos olhos. Na imagem de todas elas, a sereia sempre reaparece como se fosse a mesma. E em resposta, o olhar repete a ação ao desejar reencontrá-la, ao encontrar a falta na incompletude, e então retorna a desejar. A fantasmática mulher com calda de peixe nos lembra do que há de morte nesse mesmo desejo e em todo desejo – a teia de Eros e Thanatos.
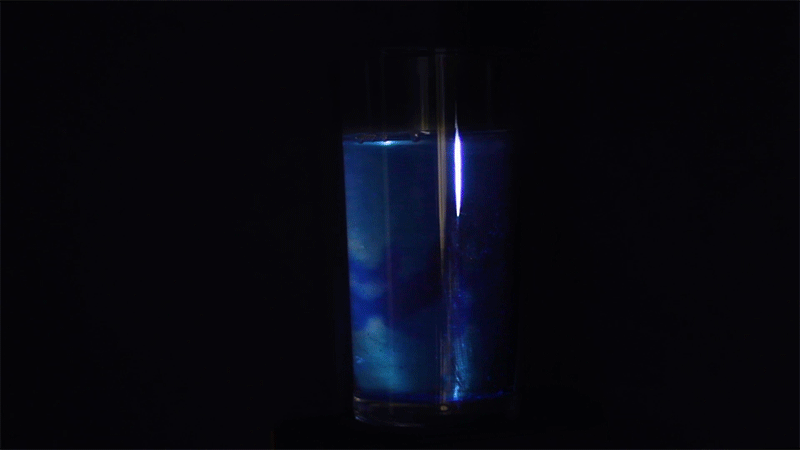
Mortinha, Flora Leite, 2019. Vídeo-instalação. GIF. Imagens: Ilê Sartuzi.
Estratégias de observação
Se por um lado, o trabalho lança mão de aparatos que criam essa contemplação suspensa, há também uma certa dificuldade em sua visualização. A estratégia do olho mágico para um olhar concentrado exige do espectador um certo desconforto físico e um voyeurismo público. Neste sentido, o registro do trabalho é absolutamente diverso da experiência envolvida em sua realização, mediada por circunstâncias específicas, promovendo jogos de espelho entre instalação, projeção, vídeo, espectador, e o contexto de uma galeria comercial no bairro da República em São Paulo. A experiência do trabalho promovia a sobreposição de duas ideias de tempo e espaço. Por um lado, o tempo e o espaço concretos do corpo do observador, que vê somente ao permanecer recostado desconfortavelmente no espaço físico e a concretude do copo e da água. De outro, o tempo em suspensão do loop do trabalho, no espaço ilusório de mares, aquários e piscinas, reforçados pela água colorida de azul. O significado parece estar na negociação entre todos os elementos da obra – o que ele arrasta internamente com as imagens de sereia, o copo d’água, e a especificidade de sua constituição material mediante o dispositivo construído para sua observação no espaço da galeria.
Em sua franqueza técnica, o trabalho também expõe suas condições de construção: é evidente a projeção do vídeo de montagem com trechos diversos – afinal os pixels do projetor digital são visíveis também, e o reflexo do próprio copo. Mesmo assim, parece provocar uma observação contemplativa, não sem deixar de pleitear algum maravilhamento. Esse olhar detido é central para o trabalho, a absorção do espectador. Mas é enfeitiçar sem apagar o espaço e o tempo concreto no qual o observador encontra a obra enquanto um voyeur. E nela, se depara com a representação cinematográfica e televisiva de um mito assustador transformado em um estereótipo do feminino. Se imbricam no trabalho: o contexto onde a obra é realizada, a vitrine enquanto display de mercadorias e o dispositivo[1] de observação do qual lança mão. O trabalho arrasta o poder de sedução das vitrines; o poder de sedução que imagens e coisas têm sobre a imaginação, o prazer da crença em fantasmagorias e sistemas de representação, ambos testemunhados pelo fetiche da mercadoria, ou pelo fetiche-em-display (MULVEY 1996, 5); a combinação entre o desejo e morte contidos na figura popularizada da sereia.

Mortinha, Flora Leite, 2019. Vídeo-instalação. Imagem: Ilê Sartuzi.
Mortinha
A sereia encontra-se silenciada, muda. E talvez por isso o título do trabalho indique que algo lhe foi retirado daquilo que outrora a definia. Também há uma certa melancolia, que de alguma maneira diz da própria história da transformação de uma criatura mítica monstruosa relegada à história menor dos contos de fada e do cinema soft-porn. Mortinha porque morrem, tragicamente, diversas vezes em cada uma de suas versões: se jogam ao mar ao falhar em seduzir Odisseu, morrem quando a lira de Orfeu impede que os Argonautas ouçam seu feitiço, perdem as penas para as Musas numa competição de canto e caem na água; morrem sempre. E no conto de fadas, a redenção oferecida em troca de seus sacrifícios (não à toa um deles é a língua cortada) é a de morrer com uma alma imortal. Ao invés de virar espuma do mar, a salvação da pequena sereia é a promessa espiritual do catolicismo. Mortinha também porque são indissociáveis da morte – um alerta para os perigos de certos prazeres. E com uma risada franca, que nos denota saber de todos os seus clichês, de seu mecanismo melancólico, da inevitabilidade desse retorno em looping, da indissolução mesma da morte e do desejo, do caráter ilusório dessa sedução mecânica, petite mort é transformada jocosamente em Mortinha.
Mortinha, Flora Leite, 2019. Vídeo-instalação. Vídeo: Ilê Sartuzi.
Nota
[1] Para maior compreensão do termo dispositivo, podemos observar a definição de Giorgio Agamben: “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões, e os discursos dos seres viventes”. (AGAMBEN 2009, 40).
Bibliografia:
AGAMBEN, Giorgio. “O que é um dispositivo?” In: O que é o contemporâneo e outros textos. Chapecó: Argos. 2009.
BENJAMIN, Walter. As Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
BUCK-MORRS, Susan. The dialects of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge: The MIT Press, 1989.
CAVARERO, Adriana. For more than one voice: toward a philosophy of vocal expression. Stanford: Stanford University Press, 2005.
CREED, Barbara. The monstruous-feminine: film, feminism, psychoanalysis. Nova Iorque: Routledge, 1993.
EUVÍDEO. As Metamorfoses. Rio de Janeiro: Ediouro, 1983.
FOSTER, Hal. Compulsive Beauty. Cambridge: The MIT Press, 1993.
HOMERO. Odisseia. São Paulo: Cosac&Naify, 2014.
LEIGHTON, Tanya (Ed.). Art and the Moving Image. London: Tate Publishing; London: Afterall, 2008.
MULVEY, Laura. Fetichism and Curiosity. London: British Film Insitute; Bloomington: Indiana University Press, 1996.
O’DOHERTY, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. San Francisco: The Lapis Press, 1986.
RICHARD, Laura. Anthony McCall: The Long Shadow of Ambient Light. Oxford Art Journal. Oxford: Oxford University Press. 35.2 (2012). p. 251-283. Disponível em:
http://oaj.oxfordjournals.org/. Acessado em 01/06/2015.
SAGAYAMA, Mario. “Mortinha, de Flora Leite”. Disponível em:
https://www.artepassagem.com.br/mortinha-mario-sagayama. Acessado em: 27/08/2021.
