O bocado – o fragmento – tem os limites onde não deveriam estar; o seu contorno é errado. O problema do fragmento é um problema da forma, ou seja, de limite, contorno, é um problema de como o ar contorna a forma. Hypothesis: se há corpo e mundo, se o corpo instala uma descontinuidade no fluxo do mundo, a pele do corpo tanto pertence ao corpo como ao mundo; o lado interior da pele pertence ao corpo, o exterior, ao mundo; assim, o que se vê – a parte exterior da pele de tudo o que se vê – é, igualmente, a parte exterior da pele do mundo, isto é, também lhe pertence; o que se vê é tanto a parte exterior da pele do corpo como a parte exterior da pele do mundo. Até a linha finíssima – qualquer linha – tem dois lados e, no meio deles, uma área funâmbula que não pertence a ninguém. A fronteira é exemplo disso – dois lados imiscíveis; e o muro – a tal área funâmbula –, quem paga?

Íntimo é uma coisa dentro do seu limite; intimidade é quando duas coisas perdem o seu limite altivo; intimidade é não haver um limite claro entre as coisas.

Sem pele um corpo apodrece, miscigena-se com o mundo; a podridão é isso mesmo – é o mundo a penetrar nas coisas. O fragmento estará sempre aberto, cariado, com uma falha na pele original, com uma falha no seu limite, na sua forma, como um amputado. Por exemplo, o retrato de um homem amputado parece estar condenado a uma espécie de incompletude perpétua – o desenho não tem forma de se completar, dado o modelo. O mesmo acontece com o desenho de uma ruína – parece sempre faltar qualquer coisa; são, por assim dizer, desenhos infindáveis, infinitos; infinito não significa não ter fim, mas, antes, que não acaba, que não tem forma de acabar.
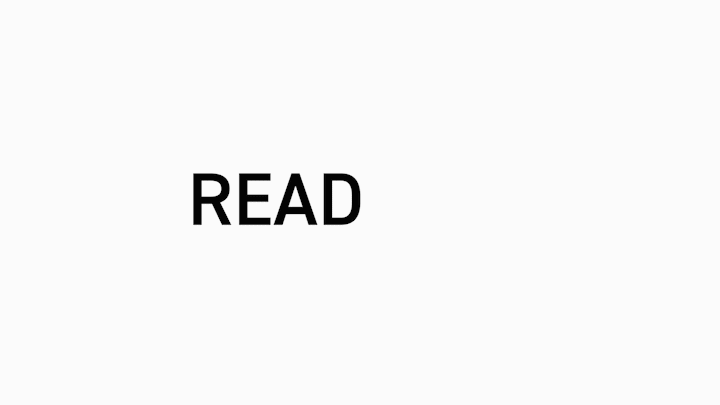
A forma da ruína é aleatória, casual, contingente, depende de circunstâncias incertas, daí o seu formato ser tão imprevisível. A ruína é reclamada pela natureza – são-nos familiares aquelas construções meio desmoronadas já cobertas de verde e animais, como se o natural resgatasse para si o terreno ainda ocupado pelo artificial; a ruína é uma espécie de estado intermédio entre o artificial e o natural, entre cultura e natureza, cozido e cru; a ruína é um estado onde se adivinha o natural a engolir o artificial; é a esse estado intermédio que se dá o nome de ruína, quer dizer, ele é um processo. Neste sentido, e como mostrou Simmel, a ruína é uma espécie de colaboração – sucessiva e não simultânea – entre homem e natureza; a ruína é o futuro natural de toda a construção, de tudo. Tudo tenderá para o torso (Dillon).

Sem incremento de energia, o sistema desorganiza-se, isto é, muta-se, degrada-se; no contexto do artificial, das coisas criadas pelo homem, esta energia que obviaria a entropia seria a manutenção. A manutenção é a tentativa de manter separados o natural e o artificial; faz-se a manutenção para conservar forma e funcionamento, integridade, para obviar a erosão, a corrosão, a ferrugem, para afastar a natureza, para impedir o natural movimento das coisas. A ruína tende para a horizontalidade; ruir é isso mesmo. Num certo sentido, é uma aproximação do que é sólido aos líquidos, que sofrem daquela paixão pelo horizontal, ao qual são fiéis e do qual são fiéis; se tudo ruísse, inclusive os homens, a vista ficava bastante mais desafogada, num mundo mais horizontal.
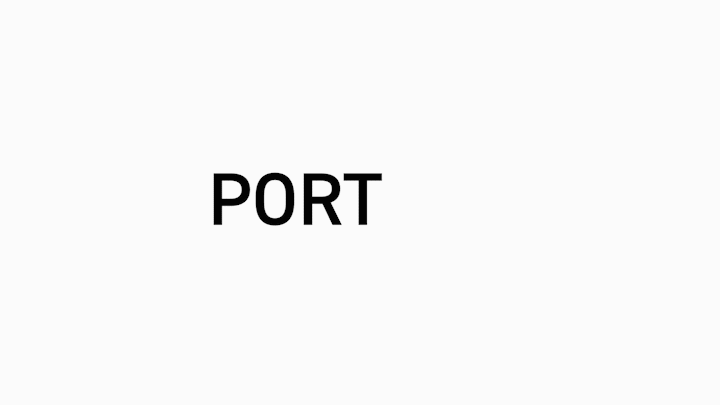
Para haver fragmento ou ruína, tem de existir primeiro a coisa inteira, completa; não é possível criar um fragmento de raiz. Não é possível criar um fragmento. O inacabado está sempre antes da coisa, fica sempre aquém; a ruína, o fragmento, sempre após. A tentativa de criar fragmentos de raiz, ou seja, criar coisas com falhas na forma, na sua completude, poderia chamar-se falhar; como tal tarefa é impossível, a justiça do nome estaria para sempre assegurada.
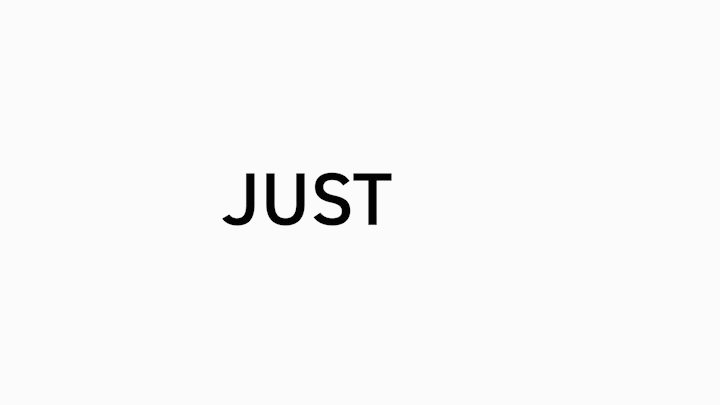
O fragmento é uma ruína, é o que fica; de todas as coisas, é das mais perenes. A ruína mostra-nos que chegámos tarde de mais; a ruína transforma-nos instantaneamente em sobreviventes – só um sobrevivente pode contemplar uma ruína. Na ruína, encaramos a devastação do tempo (Diderot). A ruína cria a forma presente de uma vida passada (Simmel); a ruína – e o fragmento – podem ser entendidos como uma das formas que o tempo tem de se tornar visível, como também o faz com a poça, ou com o pó.
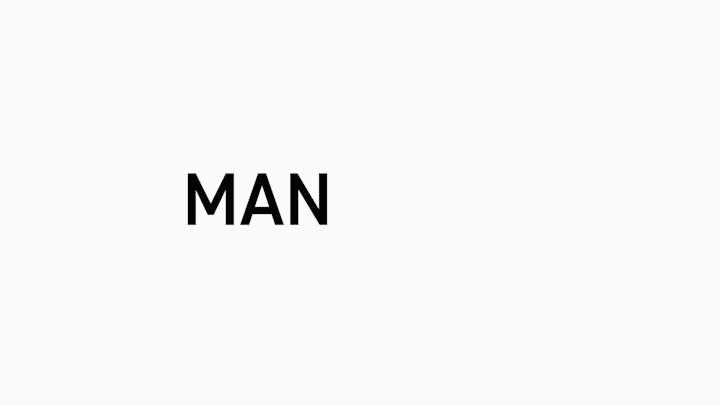
“Os contadores de histórias não perceberam que a Bela Adormecida teria acordado coberta de uma espessa camada de pó; nem imaginaram as sinistras teias de aranha que teriam sido despedaçadas com o seu primeiro movimento” (Bataille). O pó é ausência de movimento mais tempo; a equação do pó: – movimento + tempo = pó. No fragmento percebe-se tanto o tempo que passou como a parte que falta; o fragmento contém mais tempo e ocupa menos espaço; a equação do fragmento: + tempo – espaço = fragmento.
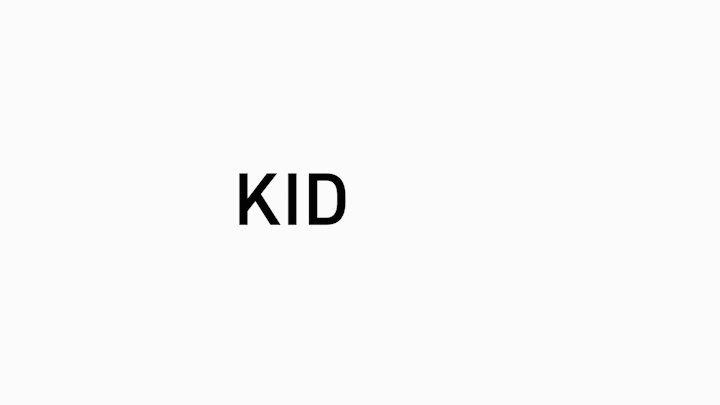
O fragmento é um bocado. O que vemos quando vemos um bocado de uma coisa? Ora, o que acontece é termos uma experiência de simultaneidade similar à que vivemos com a passagem do tempo. Pressentimos o tempo a passar, descobrimos que algo já passou, que subitamente algo se alterou se, ao mesmo tempo, experimentamos um momento passado e o momento presente. É uma experiência da simultaneidade – do tempo que passou e do tempo do agora, para que se consigam ver as diferenças entre eles, para que se perceba que algo mudou, que o tempo passou.
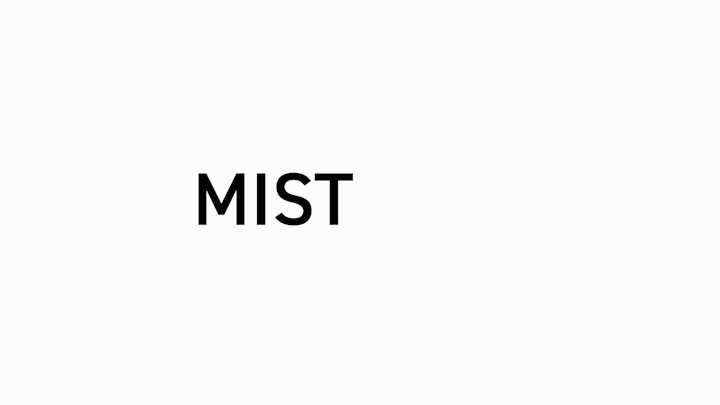
Ora, com o bocado – com o fragmento – acontece algo similar; vemos o bocado, mas vemos, simultaneamente, a peça inteira; só assim podemos reconhecer que falta ao bocado um bocado, ou seja, que no lugar do resto que o completaria está o ar; que o ar não circunda a coisa pelo lugar devido – que é à volta dela –, como se a forrasse, como se forrasse o seu contorno, mas percorre agora a área que outrora a coisa completa ocupava. No fragmento, o ar adjacente está no sítio errado.
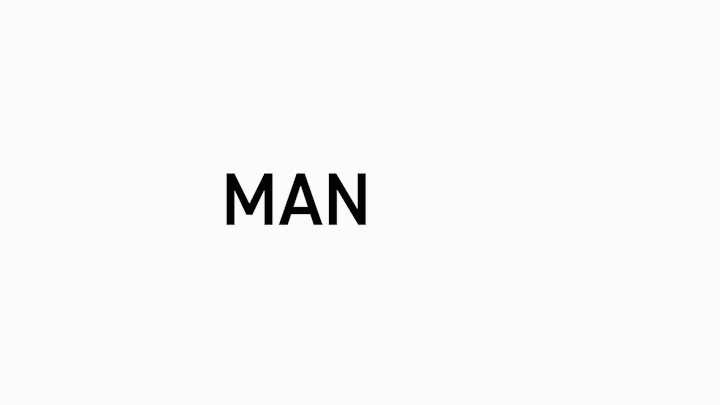
O bocado que falta ao bocado é a parte que lhe daria o nome próprio, a sua utilidade, a sua razão de ser; como perdeu um bocado, passa a ser apenas outro bocado, um fragmento. Sem esta ligação, o bocado não seria um bocado, mas apenas uma peça, objecto, coisa risível, e, acima de tudo, completa. É a parte que falta que incute romance, sentimento de perda, melancolia ao bocado.
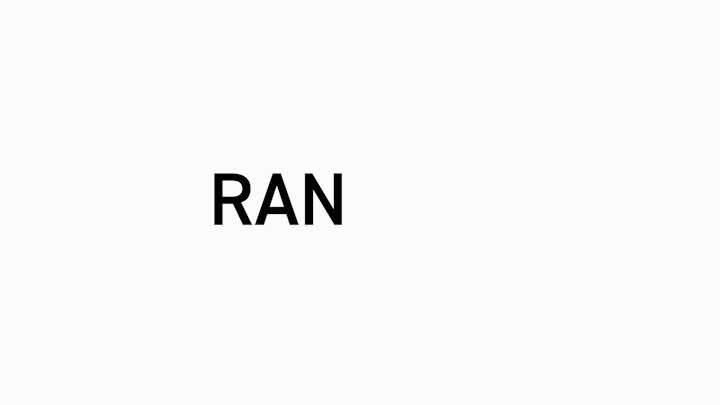
Uma coisa completa que perca um bocado, e com essa perda perca igualmente uma parte significativa da sua forma comum e da sua utilidade, passa a ser invariavelmente um fragmento. As coisas mudam de nome quando perdem a sua utilidade, função ou funcionamento. Uma caneta sem tinta é ainda caneta? Uma caneta serve para escrever; uma caneta sem tinta não escreve; a coisa já não serve o nome. Quando uma coisa já não é útil – utilizada – desabraça o nome? Um homem, por exemplo, torna-se cadáver, corpo apenas.
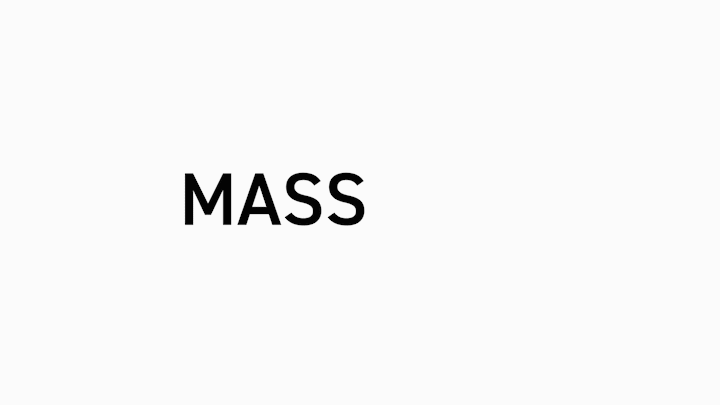
Há, no entanto, bocados, bocados de coisas, que terão um estatuto um pouco diferente – o batom, o sabonete, o rebuçado. Estes objectos não permitem o uso, como o permite, por exemplo, uma mesa. Uma mesa, antes e depois de usada, permanece sensivelmente igual; já o batom, o sabonete, o rebuçado, sofrem uma erosão inescapável – não permitem o uso, apenas o abuso, até à desaparição total. Quer dizer, o sabonete e o batom – o rebuçado é um caso um pouco diferente dado o seu uso ser contínuo e não por fases espaçadas (é pouco comum vermos um rebuçado meio utilizado) –, ainda que já sem a sua forma original, não perdem a sua identidade, isto é, não deixam de ser o que sempre foram por se transfigurarem em fragmentos. Aliás, tanto um como outro são vistos, o mais das vezes, já utilizados e quase nunca na sua forma original e intocada. Assim, o batom, o sabonete, o rebuçado, não pertencem à categoria de bocados mesmo quando já utilizados, lesados e amputados.
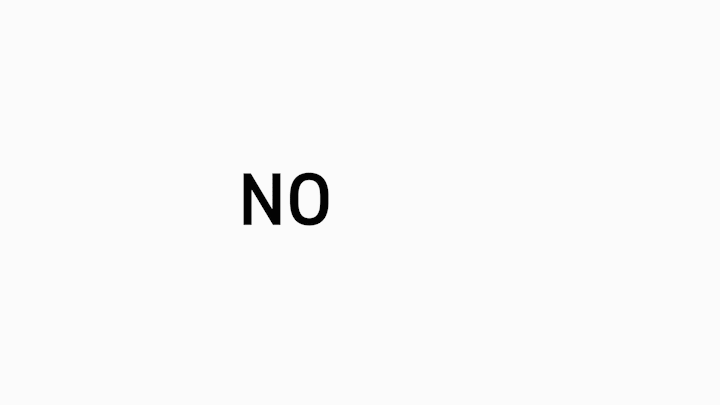
Há que dizer que qualquer destes objectos, para além de não permitir o uso, não possui pele; é constituído por uma matéria única, íntegra, por assim dizer; nem pele nem interior; a sua forma é decidida pelo contorno da sua matéria, sem este se constituir numa pele. É só interior, dir-se-ia; coisas que apenas possuem interior – o universo e os elevadores; coisas que não se podem dividir – os buracos. O contorno aparece apenas porque a matéria acaba e logo começa o ar.

A água comporta-se um pouco da mesma forma, embora à sua tona as moléculas estabeleçam ligações mais fortes para se protegerem do ar superior; é esta característica que permite, por exemplo, o sapatear irreal do alfaiate. Assim, a tona da água é um pouco diferente do resto do volume do rio, constituindo qualquer coisa como uma pele, a pele da água. A água é como aqueles queijos que, na secagem, a matéria homogénea de que são constituídos cria uma casca – uma pele – em resposta ao ar pernicioso; a sua própria protecção, o seu exo-esqueleto. Pelo contrário, não é possível descascar um batom, ou um sabonete, ou um rebuçado.
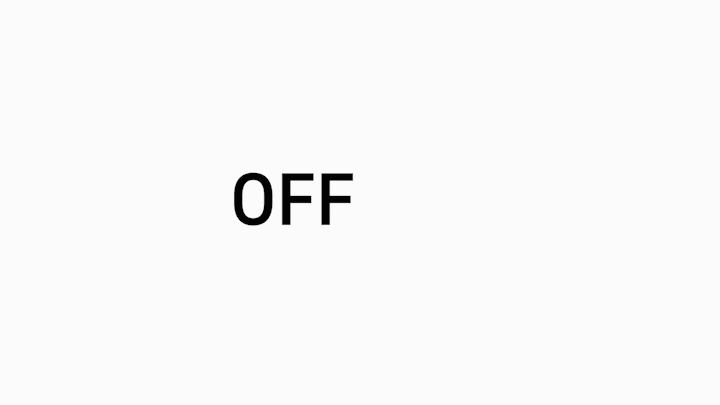
O que interessa na percepção de um bocado – a imagem mental da forma completa ou, simplesmente, a parte que falta? Hypothesis: a disciplina do fragmento – a arqueologia; ver o todo, o completo, essa é a tarefa da arqueologia; ou, lacunologia – a ciência do fragmento. É a visão da parte que falta uma forma de desejo? O desejo não é apenas distância, espacial ou temporal, entre um sujeito e a coisa desejada; o desejo faz ver incompletude em tudo; nada está completo para o ser desejante. O que é o desejo senão ver mais do que lá está, do que está presente? Ou seja, o que é o desejo senão ver a parte que falta, ver o que não está lá? O desejo parece ser uma propensão para o completamento, para o preenchimento.

A assunção de um bocado obriga a ver o que, na verdade, não está lá; se assumirmos estar na presença de um bocado – de um fragmento –, assumimo-nos como uma espécie de visionários; arqueólogos e visionários. De um bocado, percebemos o todo. Sinédoque.

