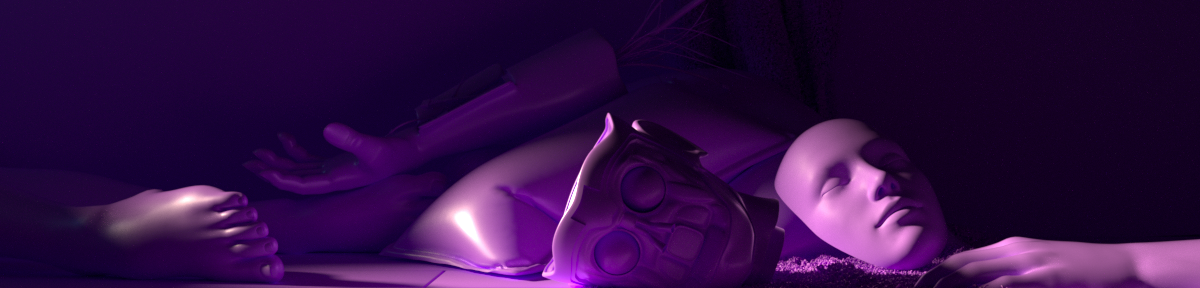In the Mahābhārata, King Gaya’s wealth is said to have been ‘as countless as are the grains of sand on earth and stars in the sky’… In Armenian oral epic armies are described as being as numerous as the stars in heaven, or as more uncountable than the sand of the sea… In Irish saga it is related that the slain Fomori on the Mag Tuired were as numerous as the stars of heaven, the sands of the sea…
M. L. West, 2007.
Como quantificar a multitude numa época em que a quantificação se desnaturalizou?
Um dos símiles mais ubíquos das civilizações arcaicas assemelhava a ideia de multitude à desmesura dos grãos de areia e das estrelas do céu. A relação entre poder e natureza espelhava-se na incontabilidade natural.
E hoje? A técnica do capitalismo tardio desnaturalizou o incontável.
Por um lado, as guerras pela areia que se intensificam não mais nos dizem que os seixos de sílica acabarão. Por outro, o nosso céu pós-industrial não mais nos diz que perdemos o pedido do cosmos: a visão das próprias estrelas. O que resta? Uma multitude desnaturalizada. Uma quantificação sem referente.
Após o momento Gagarin, Gaia, vista na sua totalidade, alberga em si o paradoxo de todos os incontáveis. À multidão, à incontabilidade da vida, contrapõe-se o maior processo técnico-histórico de sempre de biocontabilidade. O poder espelha-se na totalização do arquivo vivo, via controlo de data e bioeconomia dos tecidos, sintetizando a sua autoridade através de diretivas financeiras que subjugam uma carne coletiva, homogénea desde a queda da URSS. À mente chegam-nos imagens de uma multidão de paixões inertes, materializações da equalização de Tocqueville. Os pés são desterrados da sua areia, os olhos vislumbram o opaco do céu noturno. A multitude não é mais o que fora. A sílica e a luz do cosmos foram reduzidos à horizontalidade uniformizada do smartphone, à matematização teleológica do real. O mundo não está entre coisas. O mundo está dentro de coisas. Coisas que tocamos. Coisas, porém, que não nos sustentam nem nos fazem pensar a sua luz. Para os antigos, o mundo era aquilo que estava debaixo do sol, e as coisas do mundo eram aquilo que percorria as suas areias. A multitude habitava o mundo por, precisamente, estar entre os grãos de areia e as estrelas do céu. O incontável habitava o mundo limitando-o, expressando-se nele.
E hoje? O incontável está por todo o lado. Sem limites. Sem expressão. Além-mundo.
O símile da multitude inverteu-se. A incontabilidade humana deslaçou-se da incontabilidade natural. O grilhão hodierno é outro: entre a contabilidade humana e a contabilidade natural. Um nó de forca. No método apocalíptico dos nossos dias, o desaparecimento sensível das areias e das estrelas é um presságio do nosso próprio desaparecimento a-vir.
Sand Wars
No ano de 1825, os 15 000 gaélicos já estavam substituídos por 131 000 carneiros. A parte dos aborigines atirada para a orla marítima procurava viver da captura de peixe. (…) Mas [o] cheiro do peixe subiu ao nariz dos grandes homens. Farejaram algo de lucrativo por detrás e arrendaram a orla marítima aos grandes negociantes de peixe de Londres. Os gaélicos foram expulsos pela segunda vez.
Marx, 1985.
O documentário Sand Wars, demonstrando a crise em torno da areia de sílica, expôs a inaudita manipulação e mercantilização do território, apanágio do progresso da técnica moderno-industrial. Criam-se continuidades nas grandes urbes costeiras à custa de descontinuidades de pequenas vilas piscatórias e de extinções de arquipélagos desde longa memória ocupados. A destruição de uns é a salvação dos outros. Esta lógica etno-higiénica que determinou as maiores atrocidades do século passado ganha hoje uma dimensão planetária. A contradição está à frente de todos: destruímos a terra para salvar o nosso modo de vida na terra. Cada grão de areia de sílica paraboliza hoje a mobilização das soberanias bioeconómicas do capitalismo tardio. Este ‘novo ouro’ sustenta o atual modo de vida global – dele dependem as indústrias eletrónicas, da construção, do turismo e até cosméticas. O mercado global, ao movimentar estas indústrias, movimenta, direta ou indiretamente, Estados, mercados, ecossistemas e populações. O grão de areia mobiliza a multitude, é um nódulo geopolítico que distingue multidões, que as sustenta ou as esvazia. O grão de areia, porém, não quantifica esta multitude, faz parte dela; mas, principalmente, tornou-se num símile para a sua função desesperada sobre o mundo. A mobilização da areia percorre estruturalmente o mercado global, percorre estruturalmente as multidões; apenas os percorre, contudo, até um dia os deixar de percorrer. Até a sua mobilização se desvanecer numa nova forma, ainda mais apocalíptica, de gestão de território.

Paul Salopek (2019), Sand mining, Rio Sone, Estado de Bihar, Índia, National Geographic
Hoje teme-se pelo fim desta areia. Aquilo que incorporava a ideia de incontável parece escassear. O que nos diz este fenómeno da própria multitude humana? Como foi que chegámos ao ponto de destruir o incontável? Porventura, será esta a ideia por detrás do espírito do nosso século: a consciência da finitude de tudo aquilo que julgávamos incontável! O fim de uma ideia de multitude, o fim em devir, provavelmente, da própria multitude.
A areia de sílica é indissociável da potenciação industrial da fórmula química do quartzo, indissociável da era da fibra ótica, da construção das megametrópoles atuais, dos dispositivos eletrónicos e, através dos osciladores de quartzo, das frequências que ritmam os andamentos computacionais – o nosso tempo. A areia de sílica inaugurou uma era industrial de transparência, de luz, de velocidade, de conduções e mediações. Além desta influência essencialmente técnico-económica, a indústria da areia tem na questão do território a sua mais preocupante evolução. Hoje, na aurora da grande época das crises climáticas, elaboramos teorias de climate apartheid, reconhecemos que a luta por territórios de menor risco será uma tendência geopolítica essencial deste século. A lebensraum de Ratzel, que sustentou a visão da máquina de guerra nazi, entra hoje em confronto com a novidade da ideia da revolta do próprio território. Ao organismo das nações, à organologia social herdeira do biologismo alemão do séc. XIX, contrapõe-se o organismo da Terra e o terror do seu sistema imunitário. Desde a subida do nível do mar aos grandes incêndios e secas, os Estados são confrontados com a invasão de um novo inimigo. O território dobra-se. Vem cobrar a sua dívida. O uncanny tornou-se planetário.
Essencialmente, as sociedades mais fortes não devem hoje conquistar os territórios de sociedades menos desenvolvidas; as sociedades mais fortes funcionarão este século através de outra estratégia, uma que se baseia na contínua análise dos riscos dos seus territórios e nas possibilidades de fortalecimento das suas áreas mais vulneráveis. É precisamente nesta nova dinâmica geopolítica que a guerra da areia se instaura: enquanto no século XX o espaço vital fora pensado através da conquista de território, hoje passámos às operações de recondução, extração e produção do próprio território. Os Estados mais fracos não estão a ver a sua terra invadida, antes assistem à crescente extração da sua própria terra. Os Estados mais fortes não precisam do território somente porque este vai escasseando na medida do seu crescimento; precisam do território por este se revelar, neste momento, como uma ameaça. O espaço vital adquirido desvela-se hoje, aqui e ali, como espaço mortal. Para os grandes Estados, a estratégia é vitalizar todos esses espaços contra as ameaças climáticas. Para os Estados sem poder, o destino parece ser sucumbir à total desvitalização do seu espaço – à extinção da sua comunidade, dos seus ecossistemas, do seu sustento, do seu próprio chão.
A guerra da areia interfere, ao mesmo tempo, na psique coletiva ao interromper a lógica escapista entre praia e urbe. O inescapável da multitude urbana aparece na premonição do fim da praia e na totalização dos bunkers prediais da megametrópole. A praia como o sonho material daquele que vive na urbe é interrompido, entramos na era da distopia da virtualização dessa hipótese, o sonho passa mesmo a ser só sonho. O referente material acaba, como muitos outros. A areia, a segurança arcaica contra as intempéries marítimas, é ao mesmo tempo a membrana do ego global contra o choque climático – sem ela assistiremos a uma naturalização da psicologia terrestre. Totalitária. Assistiremos à explosão em tudo do trauma que havia sido mediado entre a areia e o ctónico. A extração de areia despe a comunidade humana vestindo a solidão pós-humana.

Robert Smithson (1970), Spiral Jetty, Great Salt Lake, Utah, USA
Orbital billboards
Then having denied himself the supreme pleasure long enough, he turned his eyes up to the silent sky, and there it was. The four hundred and sixty-eight brightest stars, spelling out: USE SNIVELY’S SOAP.
Fredric Brown, 1945.

Paul Klee (1923), Connected to the stars
E o que temos a dizer das estrelas do céu? Vivemos com um apagamento celeste, vivemos num céu pós-industrial e numa pós-neonificação do olhar.
Para os antigos foi a potência erótica que compôs as constelações, é essa origem que, sendo em si ligação, conecta os homens aos espaços – dando-lhes precisão, medição para ir. O céu industrial da modernidade começou, nas grandes metrópoles como Londres e Paris, a perder os seus mitos. O céu noturno ganha uma outra luz, uma que o torna, paradoxalmente, escuro. Um escuro opaco. Uma luz negra passa a cobrir, como uma verónica, as antigas luzes, as estrelas. A época das luzes é também a época desta contra-luz. O que vai então substituir os deuses e as estrelas? Para os poetas da modernidade será a mera catástrofe – a queda dos deuses celestes é transmutada em meteoros. É este céu que vai sustentar o imaginário apocalíptico da ficção científica. Mas a par da catástrofe desaba uma outra coisa da dimensão sideral – a melancolia. A explosão, em tudo o que o céu tem abaixo de si, de um eros perdido – uma consciência de uma segunda queda, agora do próprio divino. Uma queda da luz contemplativa das estrelas e da sua influência no pensamento.

Detalhe das luzes de néon do Moulin Rouge, Paris
A profusão do néon, no século XX, é aqui interessante, especialmente porque a sua potência parece hoje desejar ser lançada da urbe para o céu noturno. No livro Being and Neonness, Luis de Miranda dá-nos o néon como um signo mítico da própria urbe e como a luz da distopia futura – e que lugar mais distópico para nós do que o espaço, após os seus mitos se transmutarem em mero terror astral? O néon foi um dos aparelhos de ocupação do mundo pelos Estados totalitários do século XX. Em si estão os seus falhanços e as suas potências. O néon é, no seu desuso atual, a sua memória de luz – propaganda. Esta propaganda reconfigurou-se no céu do fim da guerra fria. Neste céu terrivelmente global, dos Brilliant Pebbles e do Star Wars de Reagan, os pequenos mísseis tornaram-se na textura catastrófica do céu. Os Brilliant Pebbles, de Wood e Teller, lançam-nos na síntese entre os grãos de areia («pebbles» – como fragmentos, seixos) e as estrelas do céu («brilliant» – como uma nova luz). Esta síntese aponta-nos uma reconfiguração desses dois símiles da multitude, esses que surgem agora como símiles da potência técnica de destruição planetária. As areias e as estrelas reconfiguram-se num dispositivo de defesa e contra-ataque nuclear, de proteção e destruição, embebido num jogo de guerra apocalíptico.
Esta propaganda bélica traz-nos a melancolia de aquilo que ocupa o vácuo deixado por eros ser precisamente a nossa técnica letal. Uma técnica com operações de destruição e não de ligação. Uma técnica que só poderá ser ligação através da noção de apocalipse. Concorrente a este céu opaco e catastrófico está um outro uso da propaganda: o design publicitário sobre o vácuo. Os mais recentes projetos de propaganda orbital apontam-nos a proximidade da distopia dos céus da ficção. Substituindo a luz das estrelas, os novos néons irão unificar o céu com a terra através dos seus logotipos e slogans. Entraremos por fim na última fase de desnaturalização da linguagem sobre o nosso próprio planeta. Da mesma forma que: «Modern philosophers, from Descartes to Bachelard, enjoyed gazing into a fire to conduct their meditations on the nature of being and consciousness…» (Miranda, 2019) – Luis de Miranda dizia que a sua missão seria olhar para a luz do néon. Ora, o que proponho como exercício é olhar para a ausência de luz solar nas grandes urbes ou, essencialmente, olhar para a ausência da luz das estrelas e para a possibilidade de estas serem substituídas por propaganda. Como poderemos meditar sobre a natureza do ser e da consciência na sua ausência? Como poderemos ler um céu de slogans e ir além da sua lógica? Como encontrar beleza nesta ausência de luz e em luzes totalmente desnaturalizadas?
Até há poucos dias atrás start-up russa StartRocket prometia aos seus investidores lançar uma constelação de cubesats para o espaço; estes, atuando como orbital billboards, projetariam enormes anúncios no céu noturno. Escrevia-se no seu site: «Space has to be beautiful. With the best brands our sky will amaze us every night. No ugly place there after this.» A totalidade do mundo parece ajoelhar-se à estetização da política, à beleza brutal da narrativa capitalista. Não é por acaso que a empresa russa tinha como mote fundador a seguinte citação:
«Andy Warhol said: “The most beautiful thing in Tokyo is McDonald’s. The most beautiful thing in Stockholm is McDonald’s. The most beautiful thing in Florence is McDonald’s. Peking and Moscow don’t have anything beautiful yet”».
Embora a missão desta start-up tenha sido reformulada recentemente, o seu gérmen persiste em nos assombrar. Urge, como contra-resposta à total instalação destas potências distópicas, a práxis utópica da politização da estética. Existirá, porventura, ainda espaço para uma outra ideia de multitude, uma que, mesmo totalmente desnaturalizada, não definhe – alienada nestas imensas fantasmagorias dos céus e na total perda do espaço de vida – numa posição apolítica. Uma política da multitude envolve assim resistências a uma estética total e a uma perda de território próprio. Lutar pelo nosso espaço de vida, pelos nossos grãos de areia, é também lutar pelo nosso céu, pelas nossas luzes. Essencialmente, lutar pela areia e pelas estrelas é lutar pelo nosso incontável, por uma quantificação desquantificada. É lutar contra a privatização e mercantilização do nosso arquivo vivo, é lutar por um mundo entre, é lutar pelos entres para ter mundo.
Porém, e como vimos, a multitude humana de hoje é a que vive na possibilidade espacial e que, paradoxalmente, perdeu o ‘convite’ do espaço. Violámos a reciprocidade: o contrato natural. As estrelas, antigas musas da ciência de olho nu, são hoje ocultadas pelos progressos da ciência de olho técnico. A não-preservação destes ‘pedidos naturais’ torna a prática científica inseparável do complexo militar-industrial. Torna-a – à prática da busca dos segredos naturais – totalmente artificializada e com custos à entrada que nenhum observador genial pode igualar.

Giuseppe Bertini (circa 1858), Galileu Galilei demonstrando ao Duque de Veneza como usar o telescópio, fresco, Varese, Itália.
A multitude humana é também aquela que perdeu o pedido da areia. O pedido para nela caminhar. Para contar o seu incontável. A multitude humana levará a areia à exaustão. O mundo ficou entre as duas coisas que a multitude já ultrapassou: as areias e as estrelas. A multitude humana é hoje algo sem mundo, sem eros, sem espaço, apaixonada pela sua auto-destruição. Que símile quantificará esta impotência, este sugar de vida e imaginação? À medida que as metrópoles desiguais se agigantam, à medida que os vales do silício vão pulverizando a areia até à sua nanoficação, a potência de diafragma natural da areia vai sendo sugada. Na mesma senda, a imagem mais potente da astrofotografia contemporânea não é de uma galáxia, de um planeta ou de uma estrela, é a imagem de um buraco negro. A ideia do incontável da multitude está a ser sugada como que por um omnipresente buraco negro, um que suga as areias para o betão e para os chips, um que suga as estrelas para a propaganda. A multiplicidade da multitude está a ser sugada. As imagens e metáforas das areias e das estrelas, como tantas outras, são hoje aspiradas para a grande imagem de implosão planetária. A maior das riquezas, o maior dos exércitos… o seu incontável tornar-se-á num só.

A primeira imagem de um buraco negro (2019), centro da galáxia M87, Event Horizon Telescope Collaboration
Grão-a-grão, estrela-a-estrela – enche o vácuo o papo.
Multitude sem símile.
Referências bibliográficas:
Brown, F. (1945). Pi in the Sky. in https://www.you-books.com/book/F-Brown/Pi-in-the-Sky;
Marx, K. (1982-1985). «A Chamada Acumulação Original». cap. XXIV de O Capital. Obras Escolhidas em Três Tomos. II Volume. trad. port. José Barata Moura, Eduardo Chitas, Francisco Melo e Álvaro Pina. Edições Avante, Lisboa;
Miranda, L. (2019). Being and Neoness. Trad. Ing. Michael Wells. MIT Press. Massachusetts;
West, M. L. (2007). Indo-European Poetry and Myth. Oxford University Press;