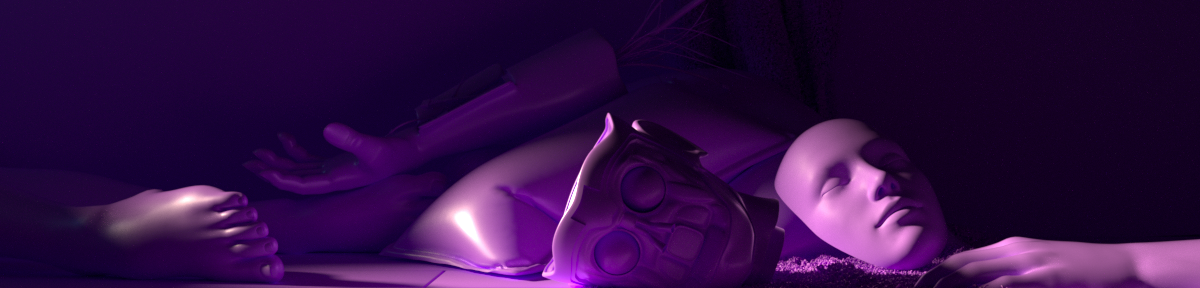1.
Como sugere José Barata-Moura, a “ontologia, às vezes, prega (…) partidas ao transeunte distraído” e aquilo que aparenta ser coisa “em que os escolares parecem gostosamente entreter-se”, acaba por ter repercussões vastas (Barata-Moura, 2018, p. 541). A pergunta em torno da qual gira esta área da filosofia é a pergunta por “aquilo que é”. A ideia aqui explorada, tendo por base textos de José Barata-Moura, Marx e Engels, é a de que uma ontologia das entidades individuais vem associada a uma visão do espaço social como composta por indivíduos isolados cujo vínculo comunitário é acrescentado a partir de fora.
Conceber o ser como fragmentado, como não perfazendo uma unidade internamente conexa, tem consequências no modo como se pensa a política e a economia política. A expressão “robinsonada” aponta justamente para este fenómeno e é utilizada por Marx nos Grundrisse para salientar o ponto de partida teórico de economistas como Adam Smith e David Ricardo: um conjunto de Robinson Crusoes produzindo isoladamente, só entrando em relação num segundo momento.
Veremos também que a própria crítica ao estado de coisas existente tem uma certa radicação ontológica e que nesse campo assentam diferenças importantes que podem estar na base de divergências no modo de identificar quais os problemas e qual o melhor curso de acção. Assim, um artigo de Ashley Frawley servirá de base para pensar esta problemática que, aliás, não é estranha aos dias de hoje.
Em suma, sugerimos que é no terreno da ontologia que começam divergências fundamentais e que, como quem nasce torto tarde ou nunca se endireita, convém atentar nessa pergunta antiga, que nos remete ao livro Z da Metafísica de Aristóteles: “o que é aquilo que é”?
2.
Na resposta à questão em causa assomam considerações como a de saber se o ser é uno ou múltiplo. Aqui podemos situar a questão do fragmento. O fragmento é entendido enquanto parte de um todo internamente conexo ou é algo que por si vale, formando com outros um amontoado desconexo, apenas podendo ser posto em relação a partir de fora, normalmente por uma subjetividade organizadora?
Por vezes, a primazia ontológica do “individual”, e portanto de uma concepção do ser como fragmentado, composto por várias entidades singulares, discretas e intrinsecamente desconexas, advém (consciente ou inconscientemente, admitidamente ou não, e em vários enquadramentos teóricos) de uma crítica ao “sistema” entendido como “totalidade conclusa” (Barata-Moura, 1997, pp. 23-42).
O sistema, nesta sua acepção tradicional, é aquilo que está fechado, acabado, invariável. Seja porque já acabou ou porque está fora do tempo, é na imutabilidade que se encontra a marca, por excelência, do sistema. Isto deve-se a uma exigência de unidade no que diz respeito ao conhecimento. Entenda-se, para haver verdadeiro conhecimento é necessário ter uma unidade que sirva de padrão ou medida da diversidade que no imediato se nos apresenta: algo que permaneça e permita compreender aquilo que constantemente devém. Por sua vez, e é isto que é contestado, esta unidade é entendida como sistema concluso, acabado (Barata-Moura, 1997, pp. 23-25). Não apenas unidade, mas uma unidade estática.
Esta concepção não se fica pela epistemologia. Acaba por se estender à ontologia.
Se o “sistema”, na sua determinação positiva, é apresentado ou subentendido como totalidade conclusa — o que, por exemplo, poderia autorizar, entre outras coisas, uma sua diferenciação relativamente ao “método”, enquanto marcha ou conjunto de procedimentos que até ele potencialmente conduz —, então, é porque no fundo o ser (de que o “sistema” constituiria a expressão teórica máxima) é pensado como encontrando-se num horizonte de radical exterioridade relativamente à história. (Barata-Moura, 1997, pp. 24).
São vários os exemplos aduzidos por Barata-Moura. Não podendo aqui explorar todos eles, deixamos apenas uma listagem na esperança de abrir o apetite ao leitor para futura investigação. Assim, lembre-se a hipostasiação do ser enquanto ideia (eidos/idea) (Platão), a exigência de sistematicidade por parte de um sujeito transcendental (Kant), as concepções de um plano necessário imanente (estoicismo) ou transcendente (metafísica cristã), não esquecendo Hegel que, mesmo tendo concebido o devir histórico como parte integrante do ser, não deixa de o circunscrever ao desdobramento de um Espírito (Geist) que em si o contém previamente (Barata-Moura, 1997, pp. 25-32).
As reações a tal concepção de sistema chegam de vários quadrantes e têm igualmente pressupostos ontológicos de base. Um dos argumentos avançados sublinha a impossibilidade epistemológica de construção de sistemas justamente pela impossibilidade de “totalização”. Totalizar implica tomar uma posição fora do espaço e do tempo. Só assim se pode dar conta de todo o real, quer na sua extensão espacial quer na sua extensão temporal — tomando-o na sua forma acabada. Ora, diz a crítica que isto é impossível a qualquer humano devido à sua constitutiva finitude (Barata-Moura, 1997, pp. 33-34).
Este argumento tem como base o privilégio da intuição como modo de acesso ao que é, ao ser — que, por sua vez, comunga do pressuposto ontológico de que “aquilo que é” é o individual, o discreto, a entidade separada.
Se “aquilo que é” é dado, por excelência, na intuição, e o que a intuição dá, é o imediato, o individual, o determinado, a entidade discreta, então “aquilo que é” é isso mesmo. O ser não é senão uma multiplicidade “escandida de indivíduos determinados, dos quais nos aperceberíamos ‘intuitivamente’ na imediatez sensível do seu dar-se fragmentário” (Barata-Moura, 2018, p. 531). Qualquer vínculo intrínseco das várias individualidades seria excluído. Ontologicamente falando: a relação não é, a processualidade não é. O máximo que temos é um amontoado sucessivo de várias individualidades ou então uma associação subjetivamente construída (Barata-Moura, 2018, p. 531). A relação, a conexão, é portanto exterior ao ser.
O argumento é simples. Se o que é, é o dado na intuição e o todo nunca nela é dado, então,
as alusões a qualquer perspectiva de sistematicidade encontram-se inelutavelmente feridas de suspeita, de obscuridade, de incorrecto desejo de transcender a esfera das competências cognoscitivas humanas. O abuso incorre em sérios riscos de converter-se em abusão. (Barata-Moura, 1997, p. 36).
É na modernidade filosófica que podemos encontrar esta primazia da intuição, seja ela intelectual, sensível ou moral (Barata-Moura, 2018, pp. 526-529). Apesar do posicionamento contra os “‘essencialismos’ de remanescência escolástica” que as precederam, estas concepções, na sua variedade, continuam bebendo de uma fonte antiga. É ela a “metafísica dos entes singularizados” que se pode encontrar em Aristóteles e Tomás de Aquino e que Hegel descobre incrustada no “senso comum” (Barata-Moura, 2018, pp. 530-531).
Ora, esta ontologia do individual encontra terreno fértil de propagação na sociedade burguesa emergente. Encontramos, assim, uma concepção do homem e da sociedade que começa pelo indivíduo isolado como ponto de partida primacial e que só num segundo momento, artificialmente, se constitui numa comunidade. É possível ver isso espelhado, entre outros, em Hobbes ou Bentham (Barata-Moura, 1997, p. 36; 2018, pp. 535; Engels, Carta a Marx de 19 de Novembro de 1844). Mesmo na contemporaneidade, esta “metafísica política” continua em circulação. Atente-se em dois autores: John Rawls e Robert Nozick. Apesar das diferenças (que são necessárias ter em conta mas que não são de momento tema deste texto) ambos pensam a comunidade política tendo o indivíduo como ponto de partida – é possível notar isto quando ambos afirmam o “facto” de o indivíduo ser algo separado como chave para pensar quais os princípios de justiça que devem regular a sociedade (Cf. Mack, 2018; Nozick, 1974, p. 33).
Foi precisamente na teorização que pretende justificar a sociedade civil burguesa realmente existente que esta surgiu descrita de uma forma que Marx, entre outros, julgou pertinente salientar. É neste contexto que se inserem as famosas “robinsonadas” de Smith e Ricardo.
Dois movimentos concorrem para este fenómeno, e ambos têm a sua origem na primazia da intuição. Por um lado, e isso já foi visto, temos a ontologia do individual, mas por outro também temos a naturalização/universalização do intuído. Ou seja, aquilo que a intuição dá, neste caso a sociedade presente, é postulado enquanto estado de coisas original e originário. A atomização do indivíduo não é apenas coisa de agora, é de sempre. Desta forma surgem as “robinsonadas”, assim como, por exemplo, a visão de Hobbes de que o homem no seu estado natural existiria num estado de luta de todos contra todos (Barata-Moura, 2018, pp. 552-577).
É neste sentido que vem a crítica de Marx a Feuerbach nas Teses sobre Feuerbach, já que este último, ainda que afirmando o materialismo, sofre ainda do problema do primado da intuição e dos pressupostos ontológicos que o acompanham (Cf. p. ex. o §29 dos Princípios da Filosofia do Futuro). Leia-se:
O máximo [das Höchste] a que o materialismo intuitivo [der anschauende Materialismus] — quer dizer: o materialismo que não concebe a sensibilidade [die Sinnlichkeit] como actividade prática — chega é à intuição dos indivíduos singulares e da “sociedade civil” [burguesa, bürgerliche Gesellschaft]. (trad. Barata-Moura, 2018, p. 29).
Não sendo esse o escopo do trabalho, podemos avançar que o problema aqui em causa é o de o ser não se poder reduzir à forma fenoménica dada na intuição. O ser inclui o processo, a relação, a história. Isto é, o ser não é um amontoado de entidades individuais avulsas, fragmentadas, mas antes perfaz uma totalidade vinculada internamente. Contudo, isto não significa necessariamente uma totalidade abstrata nem uma totalidade fechada, conclusa — precisamente porque inclui a relação entre partes, mas uma relação que não é estática. Constitui uma unidade em processo, com certas possibilidades em aberto, da qual a história faz parte integrante e, portanto, também o trabalho humano de transformação do próprio ser (Cf. Barata-Moura, 1997, pp. 42-59; 2012, pp. 245-300; Lénine, 1975 [1908], pp. 186-188, 285- 290).
3.
Não só é possível ver esta ontologia do individual em funcionamento nas teorizações da sociedade civil burguesa, mas também em certas críticas a ela feitas. Com a rejeição de uma totalidade conexa e deveniente e a assunção de visões que se ficam apenas pelo imediatamente dado sem descortinar a sua génese numa estrutura mais ampla de radicação, o máximo a que se pode almejar de crítica ao sistema vigente é uma crítica avulsa, que se atém somente à superficialidade dos fenómenos negando a possibilidade da perscrutação de um substrato que as explique e determine, e que seja possível palco de acção transformadora.
É neste sentido que vai um texto de Ashley Frawley. Referimo-lo apenas para ilustrar que também na crítica ao que existe é possível encontrar um vínculo à problemática ontológica que aqui temos vindo a referir.
A autora propõe que, nos dias que correm, há dois tipos de crítica ao capitalismo vindos da “esquerda” particularmente proeminentes, e ambos se caracterizam pelo abandono de uma crítica “totalizante” focada na economia como âmbito fundamental a partir do qual se deve entender a sociedade. São elas a crítica romântica e a crítica psicológica.
O triunfo do capitalismo — que inclui o seu triunfo ideológico —, o enfoque cultural protagonizado pela escola de Frankfurt, e o cepticismo geral das “grandes narrativas” característico da dita “pós-modernidade”, concorrem para a hegemonia destes dois tipos de crítica, diz a autora.
A crítica romântica, que não é nova, incide na mecanização do trabalho, nos malefícios da vida centrada na busca de dinheiro e da maximização do lucro, no cinzento das cidades industriais, etc. O próprio Marx via-a como sendo um reflexo que acompanha o capitalismo. O problema surge quando este tipo de crítica é tudo o que há.
O romântico enfatiza o qualitativo. Anseia por um regresso a um paraíso perdido. Aos valores de outrora. A um outro tempo. Um tempo diferente. Os primeiros românticos colocavam este tempo no passado e ansiavam lá voltar. A crítica romântica contemporânea já se dava por satisfeita se conseguisse manter as coisas como estão apenas introduzindo os valores do antigamente. Afinal, já ninguém quer seriamente a famigerada vida idílica do camponês dos tempos antigos. Hoje ambiciona-se uma stasis. Um parar no tempo, no tempo de agora, melhorando-o apenas com umas alterações aos valores e às virtudes. Limar umas arestas, acabar com os excessos da sociedade em que se vive. Como não há outra alternativa, fica-se com esta e muda-se-lhe as roupagens.
As soluções são procuradas numa sabedoria perdida, num abrandamento do desenvolvimento económico ou até num retorno a um capitalismo dos pequenos produtores, em que os mercados “funcionavam bem” e não havia monopólios. Algo que poderá mostrar uma desatenção à base económica e à sua lógica própria (Cf. Lénine, 2000 [1917]).
A outra crítica aprofunda esta. Vai directamente à subjectividade e diz-nos que o problema do sistema vigente é deixar as pessoas infelizes — focando o indivíduo e a sua experiência privada. Mas, como diz a autora, se for esse o caso então,
I would invite therapy as a solution rather than a wholesale revolutionary upheaval of the existing system. Indeed, the latter seems like overkill, not to mention particularly damaging to the masses already so easily damaged by the system as it currently fumbles along.
Este tipo de crítica está muitas vezes comprometida com uma visão do homem enquanto ser frágil, vítima impotente das circunstâncias. É muitas vezes uma reacção à visão da subjectividade vinda do iluminismo. Mas uma reacção que se excede e acaba por igualmente absolutizar uma certa visão da subjectividade humana; simplesmente já não aquela de um homem racional, livre e autónomo. O homem admite muita variação. O problema estaria na asserção de uma natureza humana eterna, imutável, seja ela qual for.
A ambição da autora parece ser a reafirmação de uma crítica baseada na análise das relações económicas enquanto fundamento a partir do qual compreender e transformar o real.
4.
Esta viragem em direcção à economia não se faz por capricho. A escolha do modo como o homem produz e reproduz o seu viver como ponto a partir do qual se pode compreender a sociedade em geral deve-se a um posicionamento ontológico particular.
Na base está uma ontologia materialista e dialéctica. Materialista porque afirma a materialidade daquilo que é, ou seja, aquilo que é independente do pensar — na relação entre ser e pensar, o ser é primário, subsiste por si sem que necessite de uma qualquer forma de subjectividade (seja divina ou humana; seja de uma vontade; seja de uma linguagem; etc.) para subsistir. Dialéctica porque afirma o movimento, a processualidade, a relação entre opostos, a história e a transformação, como inerentes à matéria (Barata-Moura, 2016, p. 327-328).
Isto traduz-se no estudo da história e das sociedades humanas do seguinte modo:
As nossas premissas são os indivíduos reais, a sua acção e as suas condições materiais de existência, quer se trate daquelas que encontrou já elaboradas aquando do seu aparecimento quer as que ele próprio criou. (Marx & Engels, 1975 [1845-1846], p. 18).
Não é de somenos importância notar a base filosófica da abordagem. Não será por acaso que Engels se preocupa em escrever o Anti-Dühring, ou que Marx esboça esse novo materialismo nas Teses que ficaram por publicar, ou ainda que Lénine se dá ao trabalho de escrever Materialismo e Empiriocriticismo fazendo uma dura crítica a certas orientações que reclamavam ser uma continuação de Marx e Engels mas que na base continuam idealistas — “Quiseram ser materialistas por cima, mas não conseguem desfazer-se de um confuso idealismo por baixo!” (Lénine, 1975 [1908], p. 368).
Esta radicação ontológica num materialismo dialéctico é reiterada no posfácio à segunda edição de Das Kapital quando Marx nota a importância da dialéctica, não apenas enquanto método que aplica ao objecto uma grelha subjectivamente concebida, mas antes como o método requerido pelo próprio objecto de estudo, como método que descortina o “vínculo interno” do objecto estudado (o capital) porque ele próprio assim se estrutura; a dialéctica não é algo ideal, na cabeça de quem pensa, mas algo inscrito na própria materialidade do ser. Daí que em Hegel ela esteja “de cabeça para baixo”. É preciso, portanto, “virá-la para descobrir o núcleo racional no invólucro místico” — só assim se pode apreender “cada forma devinda no fluir do movimento, portanto, também, pelo seu lado transitório”, revelando o seu potencial revolucionário (Marx, 1990 [1873], p. 22).
5.
Deixamos só mais um apontamento de modo a mostrar (esperamos!) que este tipo de considerações está na ordem do dia, ou, pelo menos, pode ser uma ajuda para compreender certos acontecimentos.
Referimos, concretamente, a discussão gerada em certos círculos, muito alimentada, entre outros acontecimentos, pela campanha de Bernie Sanders nas primárias do partido Democrata, em torno da temática da classe. Uns acusando outros de “reducionismo de classe”, outros não vendo nesse rótulo senão um mito. Há até quem veja a derrota de Bernie Sanders uma consequência do “fusionismo” (ou con-fusionismo?) da malfadada política de identidade e políticas de redistribuição da riqueza. Segundo Angela Nagel e Michael Tracey num artigo intitulado First as Tragedy, Then as Farce: The Collapse of the Sanders Campaign and the “Fusionist” Left, Sanders perdeu estas primárias por capitular demasiado à vertente da esquerda focada nos problemas identitários, descuidando uma análise de classe.
A questão que até agora foi abordada continua, portanto, a impor-se: será possível descortinar no próprio ser (e, neste caso, no patamar humano da sua expressão) uma unidade fundamental, base a partir da qual, em última instância, são determinados os vários fenómenos? (Não esquecendo de sublinhar aquele “última instância”, como adverte Engels numa carta de 21 de Setembro de 1890 dirigida a J. Bloch). E, se sim, que base é essa?
Referências:
Barata-Moura, J. (1997). Materialismo e Subjectividade. Estudos em torno de Marx. Lisboa: Edições Avante!
Barata-Moura, J. (2012). Totalidade e Contradição. Acerca da Dialéctica. Lisboa: Edições Avante!
Barata-Moura, J. (2018). As Teses das “Teses”. Para um Exercício de Leitura. Lisboa: Edições Avante!
Barata-Moura, J. (2016). Ontologia e política. Estudos em torno de Marx II. Lisboa: Edições Avante!
Hegel, G. W. F. (1990 [1807]), “Prefácio do Sistema da Ciência”. In Prefácios. (M. J. C. Ferreira, trad.). Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
Lénine, V. I. (1975 [1908]). Materialismo e Empirocriticismo. (A. Rodrigues, trad.). Lisboa: Editorial Minerva.
Lénine, V. I. (2000 [1917]). O Imperialismo. Fase Superior do Capitalismo. Lisboa-Moscovo: Edições Avante! – Editorial Progresso.
Mack, E. (2018) , “Robert Nozick’s Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, consultado em 27-05-2020: URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/nozick-political/>.
Marx, K., & Engels, F. (1976 [1845-1846]). A Ideologia Alemã. Crítica da Filosofia Alemã Mais Recente na Pessoa dos seus Representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do Socialismo Alemão na dos seus Diferentes Profetas. Vol. 1. (Jardim Conceição & E. Nogueira, trad.). Lisboa: Presença.
Marx, K. (1990 [1873]). “Posfácio à Segunda Edição”. O Capital. Crítica da Economia Política. (J. Barata-Moura, J. Gomes, P. Leal, M. Loureiro, & A. Portela, Trad.) (Vol. 1, Tomo I). Moscovo-Lisboa: Edições Progresso e Edições Avante!
Nozick, R., (1974), Anarchy, State and Utopia, Oxford: Blackwell Publishers.