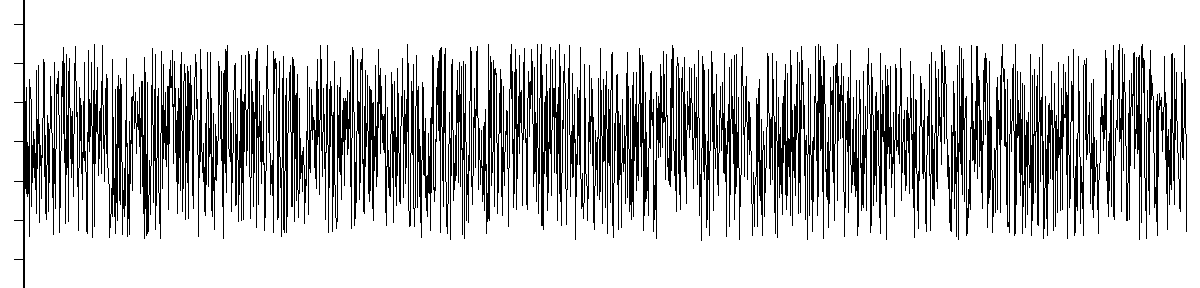Canto superior esquerdo: Fernando Fadigas na Plataforma Revólver; Canto inferior esquerdo: Marco Scarassatti © MarcinhaMumu; À direita: :such:
Entrevista a Fernando Fadigas
Fernando Fadigas é artista sonoro e multimédia com trabalhos em Performance e Instalação, Música, Vídeo e Fotografia.
Completou o Mestrado em Arte Multimédia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, frequentou o Mestrado em Comunicação e Artes na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, realizando nesta faculdade cursos e seminários relacionados com o Som, Estética e New Media, organizados pelo centro de investigação CESEM e CECL. Entre 1994 e 1998 completou o curso avançado da Escola de Artes Visuais Maumaus, Estética e História da Arte na Sociedade Nacional de Belas Artes e estudou ainda Fotografia no Ar.Co.
Em diferentes contextos (Performance Art, Teatro, Multimedia, Instalação, Vídeo, etc.), colaborou como artista sonoro, músico e DJ na produção de obras de artistas como Alexandre Estrela, Carlota Lagido, Gustavo Sumpta, João Galante, Luis Elgris, Pedro Cabral Santo, Rogério Taveira, Rui Catalão, Rui Toscano, Rui Valério, Ruy Otero, Sandra Zuzarte ou Tiago Baptista. É membro do colectivo Pogo Teatro desde 1998, colaborando como artista visual, músico e por vezes actor. Neste projecto participa ainda na produção de conteúdos, Curadoria e Programação em diversas exposições e eventos multimedia. Em 2001 fundou com Miguel Sá a editora e promotora independente Variz, uma plataforma artística e editorial de música electronica e arte sonora, que nos últimos anos se tem dedicado à organização de eventos na área da música exploratória e electrónica contemporânea.
http://www.fernandofadigas.com/
http://soundcloud.com/fernandofadigas
Ana Gandum: Como encaras o binómio arte sonora/música enquanto instrumento de abordagem à tua prática artística?
Fernando Fadigas: É uma relação de vida. Na minha abordagem enquanto artista sonoro, produtor ou profissional em multimedia, em toda a minha prática artística e mesmo no meu quotidiano, está muito presente esta relação, esse binómio som/música. Foi uma relação que apareceu cedo; por volta dos 12-13 anos tanto gravava programas de rádio em horários proíbidos como construía colunas de som e montava amplificadores e emissores FM. Sobre Arte Sonora só mais tarde tive noção. Fui sempre autodidata, cresci «não-músico» mas permanentemente apaixonado pelo som, pelas suas características físicas, pelas questões ontológicas e mesmo estéticas, se relacionarmos tudo isto com a história da arte e com as abordagens actuais da música em todas as vertentes. Dos pioneiros da música Electrónica à Concreta e ao Minimalismo, do Jazz à Pop, da Electroacústica ao Kraut Rock, das correntes urbanas e da «subculture», o Techno e o House, da Soundscape e dos Field Recordings, das abordagens antropológicas da música gravada com tribos africanas e os pigmeus Baka como exemplo. Tudo é importante para perceber e avaliar contextos estéticos, sociais e politicos através da música, é isso que nos dá sentido crítico. O «não-músico» que Brian Eno teorizou foi importante na minha aprendizagem. Tenho uma paixão óbvia pelo novo e pelas vanguardas, termo difícil de aplicar hoje quando tudo parece inventado, mas o conhecimento generalizado da música é extremamente necessário. A minha relação e aprendizagem sobre música começou de forma periférica, não foi no Conservatório ou em escolas de música, foi na rua e no liceu, no contacto permanente e na partilha de ideias e conhecimento com os amigos. Com a ideia de grupo através de programas de autor em rádios piratas, com bandas de música independente em «garagens», a ouvir grupos de baile e covers dos amigos e vizinhos. Mais tarde, nos anos 1990, tudo veio a desembocar profissionalmente na actividade de DJ, editor e produtor. Era para mim um sonho podere viver livre através da música, uma boa forma de sustento enquanto se desenvolviam ideias para performance, teatro e artes visuais. No Pogo Teatro, um colectivo artístico de Lisboa com que trabalho desde 1998, a produzir bandas sonoras, por outro lado à frente da editora Variz com o Miguel Sá, partilhando projectos como Producers (improvisação electrónica) ou Tra$h Converters (DJ Set). Actualmente e por razões profissionais, estas actividades encontram-se um pouco mais lentas, numa certa suspensão, mas continuam a ser importantes para uma pesquisa constante sobre a evolução das diversas estéticas. Relacionar isto com a academia, com a história da arte, com as novas abordagens tecnológicas e observando como o som vai sendo utilizado nas práticas actuais da Música e da Arte contemporânea. São estas as actividades que sempre gostei de desenvolver e que me acompanharam paralelamente aos diversos estudos em artes visuais. Na minha abordagem actual a imagem é secundária, mas por vezes tento criar narrativas através do som, outra forma de produzir imagem através da «arte invisível». Utilizo o ecrã negro ou salas escuras que apelam a uma escuta mais atenta e profunda, a imagem se existe é subliminar e funciona como âncora momentanea, no sentido em que lança pistas para o entendimento da narrativa. A minha pesquisa incide maioritariamente no som e na música, na minha relação com esse binómio de que falas através do acto da improvisação. Também me interessam outras questões como o Espaço, a Psicoacustica ou os fenómenos da sinestesia, mas actualmente tento que sejam estas as principais práticas artísticas: a instalação com sons e palavras e a improvisação com ruído.
AG: Em algumas das tuas performances sonoras parece haver um outro binómio latente, o da exploração da sonoridade de materiais físicos e sua mescla com a irrupção de sons digitais (ou pelo menos previamente gravados). Sendo o caso, qual a importância da ideia de acaso no âmbito dessas performances?
FF: A ideia de acaso junta-se ao aleatório e à imprevisibilidade, factores-tipo que estão sempre presentes, independentemente dos contextos ou dos géneros de sons que utilizo. Deambulo por diversas estéticas de que gosto sem preconceitos, misturando-as inevitavelmente. Como um acto pessoalmente provocatório e criativo, exploro diferentes meios em total liberdade. Gosto de pensar no som total, nas várias possibilidades criativas que este transporta, por isso nunca me fixei a uma área específica, uma única especialização seria demasiado limitado. Por vezes utilizo gravações e processamento através de software ou hardware, compondo camadas de sons originais, outras vezes exploro apenas ruído. Numa atitude mais política e imprevista, penso no espaço e intervenho nele com uma diversidade de máquinas, sintetizadores, circuitos electrónicos, fitas, rádios e discos de vinil modificados. Nunca sei o que vai acontecer exactamente, sei apenas que materiais utilizarei e que sons poderei obter. Faço um pequeno plano sobre a estrutura da peça já em palco, disponho os vários aparelhos na mesa e guardo espaço e tempo para a deriva. Gosto dessa fragilidade, sentir-me perdido por entre os sons que fui produzindo, desse processo extremo e tenso contado ao segundo. A permanente ideia de caos, a possível reorganização dos sons para uma determinada trajectória, desenhando o seu final «aqui e agora». Por vezes sirvo-me do erro da própria máquina que foi provocada, das consequências da aleatoriedade e da instabilidade do próprio sistema enquanto pauta.
AG: Parece-me que falas numa atitude política relativamente a uma alteração de dispositivos para fins que não seriam aqueles para os quais foram criados. Sendo este o caso, por que te referes a tal como uma prática política?
FF: Referia-me a essa alteração simples mas também ao ruído enquanto linguagem subversiva. Essa descarga de energia produzida por máquinas obsoletas e modificadas, mas não só, por outras matérias como discos riscados, chapas metálicas transformadas em discos, instrumentos avariados, loops e fitas, rádios e telemóveis. Uma reacção natural que tenho às convenções e aos cânones estabelecidos em determinadas linguagens. Por outro lado uma certa resistência a este abismo tecnológico e à excessiva dependência que se tornou inevitavelmente tóxica. Não quero dizer que não goste de tecnologia, antes pelo contrário, a música electrónica e toda a panóplia de inventos associada à arte e à ciência, como disse antes, sempre fizeram parte da minha vida, mas não é dessa toxina que falava. Refiro-me ao excesso que em tudo determina a facilidade, o óbvio e a banalidade, os maiores perigos para a liberdade e qualquer expressão criativa, uma outra forma de ruído.
Há ainda a questão do sistema da arte que é tão perigoso como qualquer outro. Rapidamente absorve propostas e transformam-se em tendências e por isso é preciso fugir-lhes. Jamais farei um concerto ou dj set limpinho no «cubo branco». Na Plataforma Revólver fiz uma performance de ruído enquanto escrevia nas paredes a frase «Power, Corruption and Liars» em vez de «Lies», referindo-me a uma performance de Gerhard Richter realizada em Colónia em 1981. Não é novo mas faz todo o sentido, actualmente neste tipo de lugares deve utilizar-se uma certa sujidade de sons, estruturas caóticas, palavras de combate e ruído enquanto poesia, por que não? Como pratico distância com esse sistema, estou à vontade e em liberdade de acção. É também neste sentido o político.
AG: Fala-me um pouco da tua última exposição no âmbito do teu próprio trabalho. Concebe-la também como uma forma de deslocação em relação a esse outro ruído de que falas?
FF: A minha ultima exposição foi a minha primeira individual; até aqui tenho participado sempre em colectivos. O facto de nunca ter feito uma exposição individual levou-me a pensar de um modo autobiográfico, coisa a que não estou habituado. Por diversas razões tinha pensado fazê-la em 2014, como não houve tempo nem disposição para os devidos contactos não chegou a acontecer, até que um dia, praticamente no fim desse ano, surgiu o convite da Zaratan. Este é um espaço novo e independente, foca-se na experimentação sem preconceitos no meio galerista e artístico em que está inserido, tem uma atitude inteligente portanto. A questão que se colocou foi: como montar em quinze dias o que pensei e fiz durante os últimos anos. Optei por adaptar ao espaço alguns trabalhos exibidos noutros contextos e finalizei outros que vinham a ser pensados e cujo dispositivo seria rápido de resolver. Por um lado uma abordagem com recurso à memória e ao arquivo, por outro um carácter site-specific através das instalações e das performances. No conjunto, estabeleci um percurso muito rápido pelas vertentes sonoras e acústicas que percorri nos últimos anos, uma deriva e uma reflexão relacionada com as minhas pesquisas e experiências enquanto artista, estudante e mesmo profissional na Faculdade de Belas Artes. O próprio nome da exposição funcionou para mim como uma peça conceptual, uma colagem cut up a partir de terminologia sonora. Numa frase no-sense, ironicamente longa e quase metafísica, trabalhei uma série de palavras que dizem respeito mais ou menos a este percurso de conceitos e ideias: quotidiano, humano e pós-humano, a palavra, espaço interior e exterior, a revelação dos fenómenos acústicos contidos nas diversas matérias, silêncio, ruído e ressonância. Assim, «O MURMÚRIO E A ESCUTA DA IMPREVISÍVEL RESSONÂNCIA DA MATÉRIA, DERIVA NO UNIVERSO OU NADA!» era composta por duas instalações sonoras que mostravam um pouco a realidade actual expressa através de diálogos em transportes e espaços públicos, conversas sobre o momento sociopolítico e a actualidade económica, o teatro do absurdo revisitado. Mostrei algumas experiências que tenho vindo a desenvolver sobre a relação do som com as artes visuais, com o desenho, a fotografia e a imagem em movimento. Aqui era essencial o acto colectivo e a vertente da improvisação, por isso pensei numa programação para o espaço do antigo forno à qual chamei «To Play in The Dark». No máximo de escuridão e como referência à música acusmática e à Soundscape escutou-se a peça «In.Land», uma composição a partir de captações realizadas no interior da terra, em terrenos cultivados, poços, grutas, túneis e outros espaços do género. Esta peça, tal como o vídeo «Undercurrent», realizado com imagens e sons no interior de um rio, foi difundida durante os dias de exposição e sempre antes das performances. No concerto de abertura utilizei como base samples provenientes da série fotográfica Moonrise, imagens e paisagens captadas em discos de vinil que foram posteriormente transformadas em som através de software. Houve um concerto surpresa dos Whit (comigo, o Pedro Lopes, Nuno Moita e Miguel Sá), numa abordagem experimental e extrema do turntablism, o gira-discos, os discos de vinil modificados e diversos objectos como instrumentos geradores de som sem processamentos computacionais. Tivemos um concerto de Producers que partilho com Miguel Sá, numa improvisação com electrónica e circuitos analógicos. E por fim, a performance «Desenho de Ruído» que divido com o Rogério Taveira, cujo som produzido no acto de riscar e desenhar numa chapa metálica é processado em tempo real e devolvido ao espaço, ao próprio desenhador e ao público. Provocam-se outros estímulos e novas formas na chapa matriz que servirá posteriormente para a impressão de uma gravura. No final e de certa forma, obtém-se a materialização e visualização impressa desse mesmos sons através do desenho. Não sendo este conjunto de práticas absolutamente inovadoras ou altamente sofisticadas do ponto de vista tecnológico, foram para mim experiências pessoais e colectivas enriquecedoras, uma abrangência e diversidade formal, que julgo fugirem ao óbvio e ao tal facilitismo que te falava antes.
AG: Tens também uma actividade enquanto artista visual distinta da de artista sonoro ou não diferencias as práticas e/ou estão totalmente imbricadas?
FF: A minha actividade como artista visual é muito discreta quando comparada com as actividades sonoras ou musicais; obviamente reconheço-a como altamente importante na minha formação. É certo que por vezes utilizo o vídeo e a fotografia, mas para enquadrar melhor a minha relação com a imagem, posso dizer que os meus estudos se iniciaram nas artes visuais, mas como foco principal tive sempre a música, o som e toda a tecnologia associada. Iniciei-me nas artes gráficas e na tipografia, depois estudei Fotografia no Ar.Co e amadureci essa aprendizagem na escola de Artes Visuais Maumaus, aqui numa abordagem teórica e prática sobre as diversas temáticas que ocorriam na Arte Contemporânea, bem como o desenvolvimento colectivo de projectos artísticos de carater site-specific. Estudei ainda Estética na Sociedade Nacional de Belas Artes, mas a participar em colectivos musicais, na experimentação sonora, na rádio e como DJ. Nos final dos anos 90 senti um excessivo uso da imagem na Arte e na Comunicação. Em 1995, numa exposição colectiva com a escola Maumaus em Berlim, fiz a minha primeira abordagem sonora no contexto da arte, numa altura em que raramente se falava de Arte Sonora ou Soundscape. Concebi um objecto sobre identidade através do som, um kit instalado no jardim de Pankow que permitia a escuta de um pequeno mapeamento sonoro de Lisboa, sobre os pontos principais de entrada e saída de pessoas e mercadorias nesta capital. Estas gravações de campo intencionalmente lidas numa cassete com um Walkman acompanhavam as fotografias dispostas aleatoriamente numa caixa para que o espectador procurasse uma correspondência entre imagens e sons de Lisboa, uma cidade dentro de outra cidade, antes das cartografias sonoras dispostas na rede. Para lá dos jogos de correspondência, este kit transportava consigo uma certa ironia sobre os meios, pois o país pobre e periférico, longe de qualquer «choque tecnológico», fazia representar-se numa capital em grande mudança: Berlim era a cidade tecno a erguer gigantescos edifícios Sony.
Por isso, posso afirmar que sim, claramente as duas vertentes estão imbricadas em exemplos recentes. No vídeo «Undercurrent» fiz uma composição sonora com os sons captados no interior e exterior de um rio, mas utilizo a tela negra como escape à imagem. O tempo na escuridão é precioso para uma percepção clara deste trajecto que mais apela à escuta do que ao visível. São os espaços de silêncio contido na própria imagem que determinam as diferentes etapas desse percurso sonoro na corrente submersa. Em «In.Land», composição soundscape apresentada na exposição de que falámos antes e que foi parte da minha tese de mestrado, tento que haja uma imagem construída através das diferentes camadas de som difundidas numa sala escura. Finalmente, no trabalho fotográfico «Moonrise», confunde-se uma paisagem nocturna de mar, realizada em 1994 e impressa em papel fotográfico, com oito imagens recentes e muito semelhantes realizadas com discos de vinil, estas impressas digitalmente. Há aqui uma clara associação ao termo «paisagem sonora», mas é sobretudo um trabalho sobre tempo e percepção visual, sobre meios, com um ponto de partida que neste caso é a imagem original captada num tempo distante. Tentei que o real e o artificial coabitasse neste enquadramento particular e se apelasse para as diferenças entre o «olhar» e o «ver», tal como em «Undercurrent» ou «In.Land» tento fazer com o «escutar» e «ouvir».
Entrevista a Marco Scarassatti
Artista sonoro, compositor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Marco Scarassatti (Campinas, 1971) desenvolve pesquisa e construção de esculturas, instalações e emblemas sonoros.
Mestre em Multimeios e Doutor em Educação, ambos pela Univesidade de Campinas, possui artigos publicados nas áreas de Trilha Sonora, Educação Musical, Improvisação e Curadoria em Música Contemporânea. É colaborador na revista eletrônica portuguesa Jazz.pt e autor do livro Walter Smetak: O Alquimista dos Sons (Editora Perspectiva/SESC), publicado em 2008.
Criou e participa do grupo Sonax, com o qual gravou pelo selo europeu Creative Sources Records o CD Sonax (2009). É autor ainda dos CDs Walter Smetak: O Alquimista dos Sons (2008), Novelo Elétrico (2014), Rios Enclausurados (2015).
AG: Como encaras o binómio arte sonora/música enquanto instrumento de abordagem à tua prática artística?
Marco Scarassatti: De um lado eu gosto de falar que a Música é meu modo de estar no mundo, de perceber, fruir, pensar o mundo, é meu modo de agir e elaborar conceitos. Por outro lado, creio que meu trabalho se insere muito mais num conceito de Arte Sonora do que propriamente de Música, isso se pensarmos ela de forma estrita, da forma como essa produção sociocultural humana se consolidou ao longo de sua história. Entretanto, ao se considerar o quanto o fazer musical se expandiu, principalmente após a segunda metade do século XX, creio ser mais oportuno pensar hoje em Arte Sonora, Arte do Sons ou mesmo Sônica, ainda que a «posse» desse território, no primeiro caso, esteja muito mais sob o domínio dos artistas visuais que apreenderam o conteúdo material, conceitual e plástico do universo musical. É como se o conceito Música não comportasse mais as práticas que podem se considerar música.
Eu entendo que haja uma discussão sobre a natureza que distingue esses campos, mas eu prefiro pensar que a Arte Sonora emerge mesmo é como conceito e a partir de um processo de expansão de sistemas artísticos que se consolidaram historicamente com suas práticas sociais, estéticas, poéticas e políticas: as Artes Visuais e a Música. E por ter uma natureza de borda, a Arte Sonora permite uma dupla adesão a esses dois sistemas. Como conceito, considero-a mais inclusiva, inclui a própria Música e as Artes Visuais. É como a ideia da pele que interliga os nossos sentidos de contato com o mundo. Mesmo essa pele tem duas faces, uma que é tocada pelo mundo no qual estamos submersos, outra que é tocada por aquilo que internamente nos constitui. Nós nos constituímos como ser nessa passagem entre o interno e o externo e nos percebemos como ser no mundo, a partir dos nossos sentidos interligados.
E a abrangência do fazer musical, desde o que o senso comum conhece como música, passando pela relação de inserção e contágio desta com o visual, o contrato audiovisual e, por conseguinte, a utilização sistemática do ruído, música concreta e eletrônica, a música eletroacústica, a aproximação da música às demais linguagens e expressões, a paisagem sonora, o desenho de som no cinema, a música pop e sua apropriação, colagem e deformação pelos DJs, a radioarte, as esculturas sonoras, o circuit bending, música para celular, a criação de ambientes e instalações sonoras, os happenings, performances e ação política de intervenção sonora em espaços públicos; todas essas manifestações retratam a paleta de atuação artesanal, poética e conceitual daqueles que intencionam fazer do som seu veículo de expressão, filtro da realidade, leitura de mundo.
De alguma forma sempre me interessou na Música aquilo que não era música, aquilo que estava do outro lado da borda e que me obrigava a atravessar. A relação com o espaço físico, com a forma plástica, com o conceito; me interessa os sons indesejados na produção dos sons desejados, o instante de tempo que antecipa a música, que firma o acordo de separação entre o ordinário e o extraordinário. O som como gerador da forma e a forma como geradora do som.
AG: Para quem desconhece a tua prática sonora, poderias falar um pouco sobre os diferentes projectos em que estás ou estiveste envolvido?
MS: Eu sou formado em composição musical e, no conjunto, a minha busca está na construção poético-política de espaços sonoros, sejam eles miniaturizados, ambientais, territoriais, performativos ou simulados.
Uma parte importante nessa busca é tentar representar as sonoridades através de uma forma plástica e ao mesmo tempo dar a essa forma a possibilidade do som musical que a completa como estrutura. Tento compor essas estruturas com fragmentos de objetos encontrados, que contêm em si um som cristalizado em forma. Fora do contexto inicial, vinculado ao objeto, instrumento, conceito inicial do qual ele é proveniente, este fragmento abre-se na possibilidade de se juntar a outros fragmentos, outros objetos e, a partir daí, compor com eles uma forma complexa, composta por um aglutinado de pequenos símbolos que se desdobram em potência latente para uma sonoridade resultante. A esse aglutinado simbólico dou o nome de Emblema Sonoro.
O Emblema Sonoro, nesse caso, tenta ser uma composição musical em forma plástica, também sonora, literária, ou ainda uma tentativa de construção poética de um campo espacial pelas sonoridades relacionadas a objetos, imagens, textos, conceitos e histórias. Aglutinações simbólicas em formas plástica e sonora das memórias recolhidas em um percurso, que é o da criação dele próprio.
Não sou um Luthier, eu penso estar compondo quando construo formas sonoras. Particularmente procuro não afinar meus instrumentos seguindo qualquer padrão, tampouco repito as afinações, me interessa o desafio da afinação do grupo, não no sentido das afinações dos instrumentos em particular, mas na singularização dos instrumentos/performers e sua interação com o coletivo. Intervalo é território e cada instrumento inventado circunscreve o seu próprio território em cada situação na qual ele é empregado.
Nesse sentido tenho feito esse trabalho de construção de dispositivos musicais, que me ajudam a pensar sobre a música e sobre a improvisação. Vou destacar alguns aqui:
1) Tubal Cretino e o Flugel Sax Sretino: o primeiro tem uma história mais extensa, guardei durante anos a mangueira e o chuveirinho do banheiro da minha bisavó, queria fazer um instrumento da família dos cretinos do Smetak. Quase vinte anos depois, encontrei uma campana de um instrumento de sopro e a juntei a um tambor de um maculelê. Ele atravessou esses quase 20 anos até que ficasse pronto, aguardando a chegada de cada uma de suas partes. Já o Flugel Sax Cretino é feito de uma mangueira de jardim, uma campana de flugel e uma boquilha de sax alto. Fi-lo em 2013.
2) Tzim Tzum (2005), esse é um instrumento que também foi se transformando até chegar à forma atual. Em 2002, fiz uma escultura sonora para deixar na escola onde eu dava aulas, procurei no ferro velho as peças e criei a forma. Ela não durou muito; então peguei as rodas que compunham o objeto e fixei-as num eixo, dei o nome em princípio de Vórtice. Depois, com os estudos sobre a Cabala, em particular o mito de criação do universo, me deparei com o drama cósmico «tzim tzum», em que o criador tem de fazer um movimento de retração para poder criar espaço e consequentemente gerar a vida. Esse drama é representado por círculos concêntricos. Dessa forma, criei um emblema sonoro representando o drama e utilizei essas rodas para dar forma ao que eu vinha pensando, coloquei-o sobre uma caixa de isopor amarela, com ferros de construção fincados nela atravessando-a de fora para dentro. É um instrumento para ser amplificado por contacto, pode ser percurtido, ou simplesmente girado, pois gera um harmônico na rotação.
3) Harpa Paleolítica (2013) instrumento de cordas, feito com bambu, cabaça, ferros rosqueados e cordas.
Em relação ao espaço e a intervenção sonora no espaço, destaco esses trabalhos:
1) «Defasagem» (1995) é uma composição para 6 pianos e prédio. Foi o primeiro trabalho em que lidei com uma estrutura ambiental, um misto de instalação, happening e performance em forma de composição. Os pianos ficavam dentro das salas de aula e o público do lado de fora do prédio.
2) «rio» (2013) feito em parceria com Fernando Ancil. Desde que cheguei a Belo Horizonte, fiquei espantado quando numa caminhada pelo centro descobri que debaixo das ruas há uma quantidade enorme de rios canalizados que, em meio aos sons do trânsito e da cidade, ficam quase apagados. Pode-se ver esses rios através de grades que ficam no asfalto, como clausuras, em que ao fundo se vê o vulto do córrego em movimento. São 150 km de córregos canalizados, escondidos da população e que só são percebidos pelas grades expostas no asfalto das ruas. Ao nos aproximarmos delas, o canto do rio timidamente transpõe seus limites, mas sua sonoridade é engolida pelo trânsito e outros sons da cidade. Passei a gravar esses sons, desde 2011 e, no final de 2013, propus ao artista visual Fernando Ancil pensarmos em viabilizar uma intervenção desses sons no quotidiano da cidade. Dessa forma, nos aproveitamos dos altifalantes já instalados para se fazer a difusão de áudio de uma feira na cidade. «rio» é uma intervenção urbana que usa os sons captados desses córregos canalizados, amplificando-os através do sistema de som instalado num trecho da Avenida Afonso Pena, que é uma das principais da capital mineira; são mais ou menos 60 altifalantes dispostos ao longo de aproximadamente 250 metros da avenida. O intuito foi criar um leito de rio audível sobreposto aos sons da cidade através de um transbordamento acústico.
3) «Sonoridades Visíveis» (desde 2012). Nesse caso a ideia é lidar com imagens que remetam para uma sonoridade. Utilizo o stencil com a imagem do corpo de uma cigarra, daqueles que encontramos nas árvores. Quando encontramos na árvore esse «corpo» é porque a cigarra já cantou, penso ser a memória do seu canto. Pois bem, grafito em postes, muros e paredes essa imagem, que não é da cigarra a cantar, mas sim é a memória da cigarra que por ali já cantou.
4) Capacetes para deriva sonora. Atualmente tenho construído capacetes sonoros, que são dispositivos de escuta ambiental. Cada capacete produz um tipo de filtragem e, portanto, possibilita uma escuta diferenciada. Essa alteração na escuta mobiliza os outros sentidos e acabamos por nos tornar todo um ouvido em movimento. Com esses capacetes tenho feito derivas sonoras pela cidade, com grupos pequenos em que cada qual se deixa levar pelos sons que mais o afecta. Tenho feito também na forma de um percurso em que de tempos em tempos o público troca de capacete. Dessa forma, a música está em quem escuta e da forma com a qual escuta.
A atuação e interação com esses emblemas e dispositivos sonoros fez resultar em algumas experiências composicionais e improvisacionais, das quais eu destaco:
1) Sonax: O Sonax é um grupo de investigação musical criado por mim e pelo Marcelo Bomfim em 2003 e, desde 2005, contamos também com o Nelson Pinton. Em 2008, lançámos pelo selo Creative Sources Record o CD que leva o nome do grupo, cuja proposta é Comunicação pré-palavra/devires e sons, interação do sujeito-ambiente com os sonoros-objetos, na construção/intervenção (mito)poética do espaço sonoro; trabalho de criação de esculturas musicais e intervenções sonoras com live electronic em espaços públicos e privados; performance utilizando objetos plásticos e sonoros criados de resíduos e vestígios da sociedade contemporânea: caixas de madeira, tubos de PVC, sucatas, polias, molas, cordas e cravelhas. Na criação desses objetos as possibilidades de interatividade musical aliam-se à apreciação plástica. A performance é criada a partir do inventário dos fragmentos musicais extraídos das sessões de improvisação e interação com os objetos, com a manipulação desses sons eletroacusticamente e a relação dos mesmos com o espaço da apresentação.
2) Novelo Elétrico: Novelo Elétrico foi pensado como uma construção poética de espaços sonoros tendo como matriz a improvisação com instrumentos musicais não usuais, inventados e objetos situados entra a música e as artes visuais. A ideia surgiu a partir de dois desejos. Um deles foi o de dar um sentido ritualístico à prática, manter a hora e a forma de preparação, preparação da sala, do corpo, exercitar a respiração. O outro desejo foi o de realizar essa empreitada sozinho, de uma forma artesanal, dentro de casa e não de um estúdio e atuar como músico e técnico, na verdade entender tudo como uma coisa só. Dessa forma, eu mesmo gravei, toquei, editei e fiz a mixagem do trabalho. Somente a master não foi feita por mim, foi feita pelo Nelson, do Sonax.
O novelo é um emaranhado de fios que antecede a tecelagem, ou mesmo é posterior a ela, quando se organizam as sobras. Em princípio ele não é o objeto do fio, seu destino final, do ponto de vista do trabalho, mas se constitui como uma forma, um quase objeto, que sempre depende da maneira como é enrolado. Ascende ao estatuto de objeto-brinquedo pelo uso das crianças e felinos. Em cada um dos novelos a sala de gravação foi preparada de uma forma diferente, com os instrumentos a serem tocados espacializados e com os microfones posicionados. Um gravador digital ficava aberto para capturar os sons ambientais. Uma imagem pertinente ao processo é a do cinegrafista que posiciona a câmara para sair por trás dela e performar dentro do quadro filmado. Só que essa performance consistiu em fazer desprender dos objetos, sons que atuassem com os demais sons atuantes nesse campo sonoro.
Na improvisação geradora, todos os elementos presentes no campo audível da gravação foram incorporados e interagidos como elementos constituintes do fluxo musical, na constituição do espaço sonoro. Essa reunião de elementos espaçados temporalmente deu um sentido de profundidade ao campo; aliás, na improvisação, o espaço se constitui no decorrer do tempo. A improvisação inicial gravada, portanto convertida em áudio, já era um fio complexo e, como tal, foi esgarçado ao máximo de acordo com suas potencialidades. Essas potencialidades estavam dentro de um âmbito ligado ao tempo, ao gestual, à textura, à corporeidade, ao timbre, ao ruído, ao sentido de profundidade e a uma qualidade de ambiência. Penso que cada elemento sonoro foi levado ao seu extremo. Esse fio tornou-se novelo, e novelo pelo caráter artesanal do processo manual de feitura do trabalho, esse fio-áudio foi emaranhado, retorcido, enrolado numa forma de um novelo abstrato; transformado numa imagem-sonora mental, com elementos do espaço acústico da gravação e do entorno.
Cada novelo é um lugar inventado, um quase-objeto tridimensional, um espaço para ser ouvido e que é habitado pelos elementos que são performados e pelo corpo que performa e é apreendido na escuta como gesto. Se a música é um tempo dentro de um tempo, a ideia do novelo elétrico é que ele seja um espaço dentro do espaço da audição. O Novelo Elétrico foi lançado como CD, também pela Creative Sources, em 2014.
AG: Em que medida concebes esse conceito de política no âmbito de uma criação sonora na actualidade, e em que medida esse conceito se encontra ligado à noção ou conceito também de espaço sonoro?
MS: Eu penso que o som tem sempre uma implicação no espaço. Quando deflagrado, ele atua sobre o espaço emprestando-lhe o seu atributo de temporalidade e, ao mesmo tempo, se acomoda, se molda a ele, tomando-lhe emprestada sua dimensão e materialidade. A difusão de um som emana espaço que se sobrepõe ao espaço físico. Numa música os sons desprendidos atuam entre si e sobre o local, sobretudo criam um espaço a partir da interação entre essas sonoridades. Portanto, quando eu penso na construção e na percepção de um espaço sonoro, eu penso em como se apreende e como se pode constituir esse espaço através dos sons. Toda a criação sonora é para mim a criação de um campo espacial vinculado ao tempo e à interação entre as sonoridades dessa criação: intervalos, texturas, silêncio e gestos. E esses fatores implicam se espaço sonoro criado, experienciado e vivido, virá a ser contínuo, descontínuo ou fragmentado.
Dito isso, penso que o artista, quando cria algo, cria não só esse algo como também inventa um modo de fazê-lo e esse modo de fazê-lo fica impregnado na criação. Quando crio um emblema sonoro, um instrumento musical composto por fragmentos de objetos encontrados, retirados do seu contexto original para se construir algo novo, o que fica impregnado na criação é a possibilidade de que se faça e se pense um mundo em que os objetos possam continuamente trocar de função, de acordo o novo projeto. Cria-se a possibilidade de que se interrompa a cadeia de produção industrial para apenas usarmos o que já está fabricado, desmontando os objetos para dos seus fragmentos se inventar outras formas e coisas, com ou sem a funcionalidade primeira. O mesmo pode se dar com os conceitos e porque não com o próprio conceito de música. O conceito do que é música pode ser reformulado a cada novo projeto, a cada novo grupo que se constitui em torno da prática, do fazer musical.
Inventar um modo de fazer é também inventar um modo de estar e atuar no mundo e para mim isso é fazer política, um modo de organizar as ações, as percepções, o sensível num processo contínuo de troca, de partilha e de confronto. Quando falo da construção política do espaço sonoro, é que essa construção fica impregnada dos modos de organização das forças atuantes nesse espaço, ao mesmo tempo em que esse espaço sonoro inventa também um modo de organização da percepção e atuação nesse espaço. Penso também que o que está sempre em jogo é a transformação, por afecção, do público em uma comunidade de participantes que interrogam o próprio fazer artístico e para atuar também como criadores. A formação e ampliação dessa comunidade está na idéia de partilha dessas experiências e processos, e na contaminação por contato, seja em ambientes informais virtuais, como os nichos específicos das redes sociais, comunidades, grupos, ultrapassando esses limites, no investimento do próprio fazer artístico como experiência social, seja nas ruas ou nos espaços destinados a isso, e também nos ambientes formais, como na atuação na educação formal, escolas e universidades.
Entrevista a :such:
:such: é um técnico de som, compositor e artista sonoro. O seu trabalho baseia-se na composição electro-acústica, em instalações site-specific, performances e peças radiofónicas.
Desde 2009 que começou a desenvolver uma abordagem pessoal da fita magnética. Recusando-se usar um laptop ao vivo, desenvolveu um instrumentarium composto de vários leitores de cassetes dispostos ao longo do espaço, permitindo ao mesmo tempo uma espacialização do som e um gesto musical genuíno através das possibilidades geradas pela manipulação desses aparelhos.
Trabalha como técnico de som free-lance para filmes de ficção e documentários, tal como para instituições como o Centro Pompidou ou o Ircam. Faz curtas-metragens experimentais que têm passado em festivais internacionais como o Vafa em Macau, o Onion em Chicago, e em cinemas experimentais em Paris.
such.bandcamp.com
staalplaat.com/recording/truth-series
AG: Como pensas o teu trajecto artístico face a duas categorias frequentemente apresentadas numa relação de tensão: a de arte sonora e de música?
:s:: A relação entre a música tal como a pratico e as instalações sonoras que faço é muito esponjosa. As ideias para as instalações podem nascer da minha prática musical, e os sons podem circular entre concertos e instalações. Por exemplo, é porque utilizo magnetofones de cassetes «kitados» no palco que tive a ideia de tentar fazer uma variação sob forma de instalação com banda magnética. Inversamente, alguns agenciamentos de sons realizados para uma instalação particular, uma vez escutados na sala de exposição, deram-me vontade de agenciar o mesmo tipo de som ao vivo.
AG: Podes falar-nos um pouco acerca dessa utilização de cassetes na tua prática musical e nas instalações sonoras? Quando é que começaste a utilizá-las e o que é que te fascina (se há algo que te fascina…) nesse empreendimento sonoro nesse dispositivo dos magnetofones?
:s:: Comecei a utilizar cassetes em palco enquanto performer por me recusar usar um computador ao vivo. A ligação ao laptop em palco entedia-me tanto enquanto espectador como enquanto performer, qualquer que seja a complexidade ou interactividade do performer com o computador. Então, optei por um material que toda a gente (ou quase) conhece e já utilizou: cassetes. Pedi aos praticantes do circuit bending para me fabricarem magnetofones «kitados» com certas funções: acrescentaram alguns botões que permitem intervir sobre a banda magnética (desacelerar, acelerar, filtrar, silenciar…) e que dão um aspecto visual a uma prática cénica. Os meus gestos tornam-se «musicais» no sentido em que uma acção das minhas mãos produz um resultado sonoro concreto que o espectador pode apreender; ele pode claramente estabelecer uma relação de causa-efeito entre o que vê e o que lhe é dado a escutar. Misturo as pistas, claro. Tanto por ter várias fontes sonoras como por manipular os sons através de pedais de efeito e de loops. Mas algumas acções gestuais permanecem claramente apreensíveis. Claro que uso o meu computador para compor e fabricar esses sons, mas quando preparo um concerto transfiro todos os sons com as montagens que me agradam para as cassetes. É muito fastidioso porque tudo decorre em tempo real. Para gravar um som de cinco minutos demoro cinco minutos. Se desejo ter cinco sons que se sobrepõem demoro cinco vezes cinco minutos, ou seja, 25 minutos. Se me apercebo de que o agenciamento dos sons não funciona na repetição, é necessário regravar.
Não utilizo magnetofones de cassete para as minhas instalações. Trata-se de magnetofones ditos de «1/4 de polegada», leitores de uma banda magnética duas vezes mais larga do que as das cassetes. Primeiro pensei em fazer instalações com leitores de cassetes, mas logo me apercebi de que as bandas não eram suficientemente resistentes e os motores dos magnetofones de cassetes não eram suficientemente potentes. Passei a utilizar magnetofones «profissionais» deturpando a função para a qual foram concebidos para os fazer ler «faixas» de banda magnética muito longas. Várias centenas de metros de banda magnética são dispostas no espaço e através de polias e roldanas formo formas geométricas simples com banda magnética, fabricando um enredado denso e complexo. O som difundido no espaço pelos diferentes magnetofones desenrola-se também fisicamente aos olhos do espectador em todo o espaço através do seu suporte: a banda magnética de um quarto de polegada.
Comecei a usar magnetofones na minha música por volta de 1999, de forma muito pontual, para fazer loops e arquivos sonoros. Utilizo os magnetofones de cassetes «kitados» desde há cerca de cinco anos. Faço as instalações com magnetofones de um quarto de polegada desde há cerca de dois anos. A banda magnética não me fascina particularmente, mas penso que é um belo material. Enquanto técnico de som, já gravei alguns grupos de rock em banda magnética porque permite obter uma bela saturação, impossível de obter em digital. A utilização de banda permite-me trabalhar tanto o som como o aspecto plástico das minhas instalações.
AG: A tua acção ao vivo corresponde assim à encenação (se o posso dizer) de uma composição planeada anteriormente com sons exclusivamente produzidos por computador? Ou há espaço para a improvisação?
:s:: Há agenciamentos de sons que são «escritos» ou gravados nas cassetes, mas o encadeamento da acção sobre a rapidez do agenciamento das cassetes faz com que haja um grande espaço para a improvisação, uma margem de erro considerável. Tal como alguém que toca um instrumento, também eu me posso enganar. Os agenciamentos sobre cassetes permitem prolongar por mais ou menos tempo uma passagem caso assim o sinta ao vivo, ou não. Assim, não há uma parte escrita e outra improvisada separadas. Semeio de seguida a confusão entre ambos aquando da performance.
AG: Podes falar-nos um pouco dos processos de criação das instalações sonoras? Escolhes os elementos visuais, nomeadamente as formas geométricas, em função do espaço, da arquitectura, ou de um conteúdo sonoro previamente gravado?
:s:: Diria que a escolha dos percursos em banda magnética se faz unicamente em função do espaço e da arquitectura do local no qual exponho, as formas geométricas e a implantação dos magnetofones são completamente feitas in situ. O agenciamento gráfico faz-se em função do espaço. Se tenho 18 metros de altura, coloco roldanas e magnetofones a 18 metros. Se tiver um corredor de 35 metros irei jogar com a horizontalidade. E se for um local exíguo vou enredar as bandas a pequenas distâncias.
A força da tracção dos motores dos magnetofones é outro factor condicionante. Forço a sua potência até ao limite, de modo a que possam ler a banda sem que escutemos muito ruído, brilho, para poder gravar coisas tonais sobre as bandas sem que se note muito a variação de tonalidade. Não há conteúdo «pré-gravado» ou se há apago-o e depois gravo sons preparados no meu computador, sons que escolhi colocar no magnetofone. Escuto o resultado e depois decido inserir um ou outro som, sobrepor um ou outro em função da disposição no espaço da faixa.
AG: Fizeste recentemente uma instalação em modo performativo numa missa. Podes dizer-nos como é que isso surgiu e como é que decorreu; de que forma se distingue de uma instalação num espaço de Arte?
:s:: Para essa instalação em modo «performativo» foi um colectivo de música contemporânea que me contactou com uma proposta. A ideia era que todas as partes de um concerto estivessem ligadas e que a minha instalação servisse de entre-acto, fazendo as pessoas deslocarem-se na igreja. Recuperei os sons do fim da primeira peça, os quais transformei e coloquei num dos magnetofones. Quando a primeira peça estava prestes a terminar pus o magnetofone a funcionar em modo fade in e as pessoas deslocaram-se para a zona da igreja onde estava a minha instalação. De seguida, pus a funcionar os outros magnetofones, um de cada vez, até que estivessem todos a funcionar. Depois desliguei-os um de cada vez para terminar com sons que evocavam o início da peça seguinte, e terminei em fade out. Estamos aqui mais próximos do concerto do que da instalação, mas os magnetofones e as bandas estavam dispostos no espaço da igreja como uma instalação.