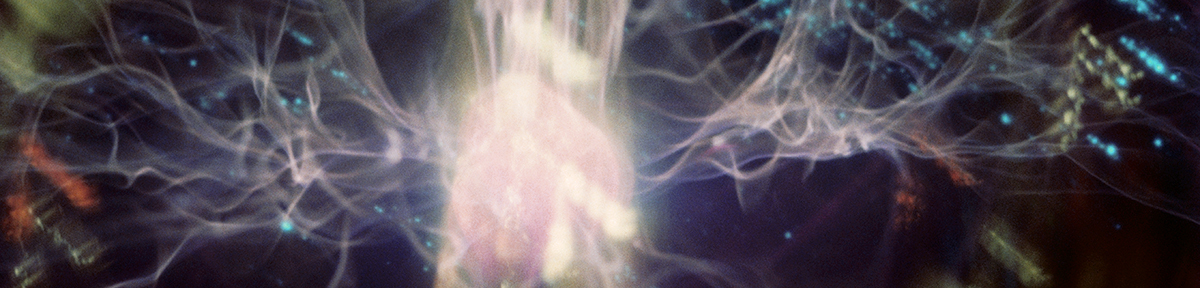Fotograma de Caro diario (1993), de Nanni Moretti.
Caro diario (1993), de Nanni Moretti, abre com uma mão que segura uma esferográfica e escreve num caderno: Caro diario, c’è una cosa che mi piace fare più di tutte![1] O plano seguinte mostra já o próprio Moretti montado na sua Vespa, deambulando aos zigue-zagues e sem destino aparente pelas ruas de Roma, numa imagem que se tornou quase figura de estilo. Intitulado precisamente In Vespa, este primeiro capítulo do filme leva-nos numa viagem pela cidade de Roma, de episódio em episódio, acompanhados por uma playlist e pela voz do realizador, que nos confessa urgências, desejos ou segredos. É a deslocação através da paisagem urbana que lhe oferece os pretextos para discutir a política, a gentrificação da cidade ou o seu amor aos musicais, com um humor que nos deixa quase sempre com um sorriso nos lábios. O final deste capítulo é um pouco mais sombrio. Na sua motoreta e com o piano de Keith Jarret como pano de fundo, Moretti faz uma homenagem pungente e nostálgica à figura de Pier Paolo Pasolini, conduzindo-nos num demorado travelling até ao idroscalo de Óstia, o ermo junto à costa onde este foi assassinado em 1975. Tal como quando vi esta cena pela primeira vez, há quase 30 anos, ainda hoje continuo a sentir uma suspensão temporária do tempo, do meu tempo, do tempo dos relógios e do tempo da história. Sob esse efeito, volto a pensar em Pasolini e no seu cinema, no intelectual implicado que jogava futebol nos campos improvisados das borgate[2] romanas, com a gente que vivia nas margens de uma cidade que filmou como poucos.
Pasolini foi um cometa que atravessou a Itália dos anos 1960 e 1970, um país contraditório, violento e em rápida transformação[3]. Nos seus múltiplos campos de acção, expôs e interrogou a todo o momento essa transformação acelerada, que via como sinal de uma massificação que trazia uma perda de autenticidade e de liberdade. Encarnando um vitalismo utópico e incansável, Pier Paolo Pasolini deseja a mudança e questiona sem cessar o estado das coisas. Por outro lado, sem qualquer contradição, diz ser uma força do passado, mais moderno do que todos os modernos, um desgraçado e forte irmão dos cães que vagueia pelas ruas à procura de um mundo que já não existe. Muito do seu cinema faz-se também desse magnetismo, buscando a força da tradição em passeios sem fim pelas ruas pobres ou pelas veredas que restam desse mundo perdido, à procura de irmãos que não existem mais.[4] Até certo ponto, na sua peregrinação ao idroscalo de Óstia, Nanni Moretti traz-nos toda a potência dessa demanda de Pasolini e leva-nos imaginar muitos outros sítios que fizeram parte da sua vida e do seu cinema, deixando-nos à conversa com gente desaparecida, num mundo que já não existe.

Fotograma das filmagens de Uccellaccci e uccellini (1966), de Pier Paolo Pasolini, com Totò, Ninetto Davoli e o corvo que fala passeando pelos arredores de Roma.
Num breve e conhecido texto, intitulado “O cinema de poesia” [5], Pasolini aborda a semiótica do cinema para afirmar que este se faz sobretudo de im-signos, isto é de imagens significantes, matéria em bruto que se distingue da linguagem das palavras (ling-signos): comunicamos por palavras e não por imagens, recorda-nos. Para Pasolini, o cinema tem nesta equação um lugar muito peculiar. Há no cinema operações que são linguísticas, ainda que sustentadas sobretudo em imagens; no entanto, as imagens de que é feito são caóticas e vêm de uma amálgama sem ordem aparente. “Não existe um dicionário de imagens”[6], diz-nos, mas diz-nos também que esse dicionário é uma utopia em permanente construção. As imagens, ainda que não estejam organizadas num dicionário e não se submetam a uma gramática, constituem um património comum, um imaginário colectivo. O cinema alimentou-se sempre desse imaginário e fabricou-o a todo o momento, e, por isso também, a história do cinema confunde-se com o próprio devir do século XX. O cinema foi o lugar de eleição para a aparição das imagens e para a produção do imaginário durante quase um século, e serviu de motor a uma temporalização (e uma espacialização) da experiência das imagens, que se tinha iniciado ainda antes, com as máquinas ópticas que anteciparam a cinemática e uma futura indústria dos media. A esse propósito, revejam-se as Histoire(s) du Cinéma (1988-1998), de J.-L. Godard, que são, ao mesmo tempo, uma prova de amor ao cinema e uma narrativa desencantada das suas histórias. Produzida em vídeo e destinada à televisão, esta série é uma colagem obsessiva de imagens, textos e sons que confrontam a história a partir de uma história das imagens, uma história da economia política e simbólica das imagens. Sob o pretexto de uma história do cinema, Godard leva-nos muito para lá dele. Não se trata de fazer uma história do cinema, mas de arriscar uma história do tempo do cinema, que é também uma história da escrita do tempo nas imagens e da inscrição das imagens no tempo.
Não admira que seja a partir do plano das imagens que Pier Paolo Pasolini desenha o seu argumento para um cinema de poesia, desde logo porque o lado mais corpóreo e concreto das imagens, por oposição à abstracção da linguagem, confere ao cinema um lado irracional e uma violência expressiva quase animal, confundindo o mundo da experiência empírica e os mundos da memória e do sonho. “O cinema não apresenta apenas imagens, ele rodeia-as de um mundo”, unindo uma “imagem actual a imagens-memória, a imagens-sonho, a imagens-mundo”[7], escrevia Deleuze. Outra forma de expressar esta relação entre imagens actuais e virtuais é falar da relação entre o real e o imaginário, num movimento de espelhos onde a percepção e a memória, o corpo e o fantasma, o físico e o mental não cessam de trocar de lugar sem clara oposição ou definição de uma origem. No entanto, as duas faces desta imagem-cristal, como Deleuze lhe chama, não se confundem. A indiscernibilidade entre real e imaginário é enganadora. Essas duas faces assumem uma posição reversível e de reciprocidade, mas, a existir, “a confusão faz-se apenas ‘na cabeça’ de cada um”[8].
O carácter nebuloso e quase indomável das imagens, no cinema em particular, mas também na fotografia, vem em parte dessa indiscernibilidade entre real e imaginário. Na sua origem, tanto a fotografia como o cinema construíram o seu lugar no universo da fabricação das imagens com base no seu carácter indiciático, ou seja, através da promessa da produção de índices, de evidências físicas de uma presença. A fotografia, e depois a fotografia 24x por segundo, pareciam representar a irrupção luminosa do real sobre as placas de vidro, os papéis, o celulóide ou os ecrãs das salas de cinema. Mas repare-se como, enquanto nos prometiam evidências do real, a fotografia e o cinema trouxeram antes à história das imagens novos regimes espectrais, outras sombras, outros reflexos, tornando claro que não se pode falar da invenção de imagens sem falar de fantasmas. Uma história das imagens é também uma história de espectros e de ilusões, confundindo-se com uma história da decepção, do engano ou da magia. Este carácter dúplice das imagens vem tanto da oposição entre realidade e representação, como da diferença entre a sua afirmação como evidência (documental) e o seu poder de invenção (fantasista). A prova de vida das imagens técnicas, a sua promessa de um banho de realidade, ainda que diferido, tem como contraponto a imaginação, a invenção, a fantasia ou, até, a alucinação. Na verdade, voltamos aqui ao carácter caleidoscópico da imagem-cristal: a realidade poder ser tão alucinatória quanto o mundo da imaginação, dos sonhos ou da ficção. Toda a imagem, toda a sensação, é por natureza alucinatória, pelo que, “em lugar de dizer que a alucinação é uma percepção exterior falsa, é preciso dizer que a percepção exterior é uma alucinação verdadeira”[9], como propunha Hipollyte Taine ainda antes do cinema, talvez já em resposta ao aparelhamento do olho e à construção moderna do espectador.
Como reacção às promessas dos espelhos ou das sombras, modelos como o da caverna platónica ou da camera obscura opõem frequentemente a transparência luminosa da realidade à obscuridade enganadora do mundo da representação. Se uma história das imagens é uma história de fantasmas, não parece possível separar a mediação e em particular as imagens, sobretudo as imagens técnicas, de uma suspeita ontológica. As imagens são como icebergues. Escondida por baixo da sua superfície, uma natureza secreta e manipuladora espera o momento certo para desferir o seu golpe. Boris Groys chama a essas profundezas, numa visão que se estende a toda a mediação, o obscuro espaço submediático da suspeita[10].
Não deixa de ser extraordinário pensar que o cinema singular de Pasolini, como o de tantos outros, tenha sido visto e discutido como mass medium, como parte de uma cultura popular, num tempo em que ainda existiam cinema(s), apesar da concorrência desigual da televisão, cujos ecrãs se tornavam já omnipresentes e competidores de respeito. Ainda assim, nada fazia prever aquilo que viria depois, com a proliferação, ubiquidade, miniaturização e portabilidade dos ecrãs. A geração de Pasolini foi das últimas a poder fazer cinema e a ter um público fora dos festivais, das salas de culto, dos museus ou das cinematecas (hoje museus do cinema). Este acantonamento do cinema é significativo para percebermos as mudanças que se operaram na fábrica global de produção do imaginário, do entretenimento e da gestão do ócio (e do tempo em geral), até porque sabemos o quanto o museu partilha uma história comum com o mausoléu. Que o cinema tenha encontrado refúgio no museu, muitas vezes como mais uma peça da chamada arte contemporânea, é, pois, um sinal da sua morte como mass medium, da sua obsolescência como máquina colectiva de produção do imaginário.
E onde estão hoje essas máquinas de produção do imaginário?
Como vimos, o cinema de que nos falavam Pasolini ou Deleuze já não existe, ou, pelo menos, não existem as condições para a sua afirmação nesses modos. As máquinas, os motores e as alquimias da fotografia e do cinema trouxeram consigo o princípio do fim da era das imagens raras e exclusivas, cumprindo mais uma das promessas da estética moderna. Em paralelo, essa motorização das imagens transformou a relação entre os corpos, as imagens e o tempo. As imagens animadas viam-se encaixadas entre o movimento e a sua suspensão, entre a vida e a morte[11], quase como que confirmando o tempo Agostiniano, dividido num presente passado, num presente das coisas presentes e num presente futuro, das coisas que hão-de vir[12]. As imagens-motores da técnica moderna eram tão instáveis e fugazes quanto o vapor, entregues a um trânsito permanente entre a memória, a presença e o augúrio, serviam à vez e ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Ainda assim, e apesar de tudo, essas imagens pareciam manter a sua singularidade.
Hoje as as imagens são omnívoras e em si próprias uma figura do excesso. Em Março de 2023, acreditando nos resultados dos motores de busca, calculava-se que anualmente se tirassem 1.800.000.000.000 fotografias, quase 60.000 por segundo[13], um número sobre-humano e difícil de imaginar, quase abstracto. Muitas dessas imagens acabam, literalmente, no arquivo dos arquivos, acessíveis à distância de um clique, mas quase todas esquecidas para sempre, algures nas profundezas de um dos datacenters da indústria global da informação. Este arquivo cresce exponencialmente, sem fim ou finalidade aparentes, e alimenta agora novas e mais insidiosas automações, entre imagens de síntese e imaginários artificiais.
Repito a pergunta: onde estão hoje essas máquinas de produção do imaginário? Esta é uma questão particularmente desafiante se a cruzarmos com as mutações trazidas pelo digital, com a sua codificação universal, e pelas redes, com as suas funções de arquivo, interconectividade, difusão e partilha. A banalização das câmaras, individuais e portáteis, hoje quase protésicas e integradas em dispositivos intermedia permanentemente ligados à rede, tornaram cada utilizador, virtualmente, num produtor de conteúdos, como hoje se diz eufemisticamente, alterando de modo radical as mecânicas e a economia da produção do imaginário. Ao mesmo tempo, o digital — com a codificação, a automação, a remediação ou a variabilidade potencial que lhe são próprias —, permitiu a absoluta transcodificação medial e novas sínteses, dissolvendo ou desafiando a especificidade dos media. No campo da imagem, as primeiras complicações sérias trazidas pelo digital chegaram com o acentuar de várias das crises que a fotografia (e o cinema) já tinham aberto, da crise da fotografia como índice à crise da autenticidade e do original, ou mesmo à crise da noção de autoria herdada do romantismo. Em última instância, esta é uma vitória de pirro de alguns dos desejos da estética moderna. Todos somos finalmente artistas e a estética está em todo o lado. A produção de imaginário atomizou-se. Em teoria, partilhamos finalmente um imaginário colectivo global. Na prática, no meio do excesso da partilha, da produção e da difusão de imagens, talvez nunca tenha havido tão pouco para partilhar.
Como reconhecer então a essas imagens, niveladas pelo arquivo e pelos bits indiferenciadores da codificação numérica, uma força própria? Este excesso de imagens, lançadas no arquivo dos arquivos ou inventadas a partir dele, impede-as de falar, de se fazerem ouvir? Como continuam as imagens a falar connosco, nessa língua que é a sua? O tempo da proliferação das imagens tem sem dúvida um lado demencial e cacofónico. No entanto, este é também, como nunca foi antes, o tempo das imagens, das imagens que nos falam do tempo e que podem continuar a deixar-se atravessar por ele, como presente passado, como presente das coisas presentes ou como presente futuro.
Persegue-me há muito uma intuição sobre as imagens: que estas são as mediadoras da nossa relação com o tempo. Haverá nas imagens um trânsito do tempo, um passado futuro que as atravessa e que devemos deixar falar. Para isso não precisamos necessariamente de recusar o excesso de e das imagens, mas de tentar encontrar aí singularidades que possam ser convocadas como um oráculo, como um feiticeiro a quem perguntamos pelo desconhecido, pelo que não sabemos ou julgamos não saber. Porque este é, apesar de tudo, o tempo das imagens.
[1] “Caro diario, há uma coisa que eu gosto de fazer mais do que tudo!”.
[2] Nome para habitação social e para os bairros pobres, por vezes improvisados, de Roma, habitados pelos Rom, pelos proletários, pelos migrantes e muitos outros deserdados da sociedade.
[3] Na altura do brutal desfecho de Ostia, Pasolini investigava os negócios obscuros da ENI, a empresa italiana de hidrocarbonetos, sobre a qual estava a escrever o livro Petróleo.
[4] Faço aqui uma composição livre com fragmentos de dois poemas de Pier Paolo Pasolini, Transhumanar e organizar, de 1971 e o poema dito por Orson Welles em La Ricotta, filme de 1963.
[5] Pier Paolo Pasolini, “O cinema de poesia”, in Empirismo herege, trad. Miguel Serras Pereira (Lisboa: Assírio e Alvim, [1972] 1982, 137-152); texto que tem origem numa intervenção de Pasolini no Festival de Pesaro em 1965.
[6] Pier Paolo Pasolini, “O cinema de poesia”, p.139.
[7] Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps (Paris, Les éditions de Minuit, 1985), p. 92.
[8] Gilles Deleuze, Op. cit., p. 93.
[9] Hippolyte Taine , De l’intelligence (Paris: Hachette, 1870); Vol. II, Livro I, cap. I, pp.12-13.
[10] Boris Groys, Bajo Sospecha. Uma fenomenología de los medios, trad. Manuel Fontán del Junco e Alejandro Martín Navarro (Valencia: Pre-textos, [2000] 2008).
[11] Ver Laura Mulvey, Death 24x a second: Stillness and the Moving Image (London: Reaktion Books, 2006).
[12] Ver Santo Agostinho, Confissões (Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2021).
[13] Isto sem contar com todas as imagens, 25x por segundo, de todos os vídeos filmados diariamente em cada canto do mundo.