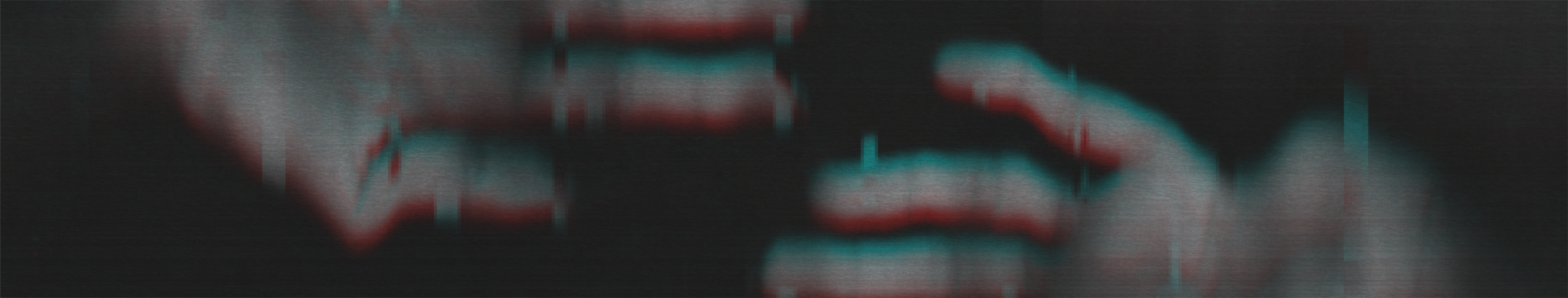negar a experiência é colocar uma mentira
nos lábios da própria vida.
Oscar Wilde
A maior ousadia de Baudelaire foi «dirigir-se à actualidade, que sentimos como cada vez mais complexa, e traçar-lhe o retrato, a essa actualidade que temos cada vez mais dificuldade em convocar como realidade, em dizer como experiência, ou sequer em configurar como nome» (Cruz, 2009: 63). Apesar de Rousseau ter sido o primeiro autor a pressentir o que era a Modernidade, Baudelaire foi o primeiro a enfrentá-la. Enquanto o Romantismo procurava erguer das ruínas o sujeito perdido e os Iluministas depositavam no progresso o sentido de toda a démarche humana, nenhum encarou verdadeiramente a Modernidade. Ambos, ao cindirem o ser do tempo presente, procurando entre o passado e o futuro, esquivaram-se às exigências do agora. Românticos e iluministas criaram o paradoxo de que só é possível viver a Modernidade através da sua própria negação, enquanto Baudelaire e os raros modernos que se lhe seguiram aceitaram o risco de viver o seu tempo com heroísmo. Porém, tomar este risco acarreta uma perda irremediável do «Eu», porque o passado e o futuro são da ordem da totalidade, mas o presente é sempre da ordem do fragmentário. Consciente desse risco, o poeta reconhece não só que o «passado, embora mantendo o picante do fantasma, retomará a luz e o movimento da vida tornar-se-á presente» (Baudelaire, 9), como o futuro enquanto «progresso é uma crença de preguiçosos» (Baudelaire, 86).
Ser moderno é aceitar o risco, é «ser, ao mesmo tempo, revolucionário e conservador: aberto a novas possibilidades de experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo niilista a que tantas aventuras modernas conduzem, na expectativa de criar e conservar algo de real, mesmo quando tudo em volta se desfaz» (Berman, 1989: 13). Toda a obra de Baudelaire vive precisamente desta tensão entre o ideal mais progressista e o reacionarismo mais conservador, porque perante o abismo não há meio-termo. Assim, lidar com o «transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o eterno e o imutável» (Baudelaire, 2009: 21), obriga a tomar uma posição radical. Não há Modernidade sem radicalidade, porque a Modernidade é aceitação de que «não existe nenhuma coisa-em-si, nem nenhum conhecimento absoluto; o carácter perspectivista, ilusório, enganador é intrínseco à existência», tal como nos relembra Nietzsche. Aceitar esta condição é aceitar de igual modo que não há «sujeito», porque a condição do sujeito depende de uma ordem exterior ao próprio ser. Quando este exterior está em risco, surge então a «subjectividade» que «é o nome que os modernos deram ao interior, no momento em que a equivalência com o exterior se desfigurou» (Molder, 2011: 220).
Baudelaire escreve um dos mais belos lamentos à condição moderna, afirmando que «Les amants des prostituées / Sont heureux, dispos et repus: / Quant à moi, mes bras sont rompus / Pour avoir étreint des nuées» (Baudelaire, 2003: 340). Na evocação da «prostituta», mesmo que dela se queira distanciar em busca de algo mais sublime, está implícita a pressuposição de que o canto às musas de outrora já não é uma possibilidade. O próprio tema da queda, tão caro ao Romantismo, é para Baudelaire de uma outra ordem, porque, ao contrário de Goethe ou Hölderlin, não é o esplendor da cultura clássica que nos ampara. O fascínio de Baudelaire com o período tardo-romano opera um ardiloso jogo de espelhos na sua poesia, ao tornar a queda numa imagem infinita. Esta coincidência entre a decadência moderna e a decadência romana nega ao «sujeito» qualquer possibilidade de união e, em última análise, nega à poesia a sua tarefa no mundo. Porque, apesar de Les Fleurs du Mal ser a última grande obra poética, Baudelaire tinha a «consciência nítida de que aquilo que escreve já não tem audibilidade universal. O poeta já não canta a cidade nem é reconhecido pela cidade. Sob os dois crepúsculos, o da manhã e o da tarde, a cidade já não é cantável como o era ainda para Dante» e «reciprocamente, a cidade não reconhece o poeta, o herói, incógnito comme un roi, experimenta o sentimento de deserção, que é uma experiência moderna, e é o primeiro poeta a cantá-la: sente-se exilado na sua própria cidade, porque a poesia não é amada, não é legível» (Molder, 2011: 212). Mas nem por isso deixou de desejar a imortal quimera, colocando a questão: «qual de nós não sonhou um dia com uma prosa especial e poética, que traduzisse as movimentações líricas do nosso espírito, as ondulações do sonho, os sobressaltos da consciência?» (Baudelaire, 1982: 146).
Compreender o carácter único de Baudelaire é de vital importância, porque sem ele não conceberíamos do mesmo modo a exigência que coube aos modernos de um heroísmo artístico: «Baudelaire ajustou a sua imagem do artista a uma imagem do herói» (Benjamin, 2006: 70). Tal como afirma Benjamin, o «herói é o verdadeiro sujeito dessa modernidade e isso significa que viver a modernidade exige uma constituição heróica» (Benjamin, 2003: 75). Contudo, o heroísmo de Baudelaire não é o heroísmo clássico de um Ulisses. Em Baudelaire não há um lar a que regressar ou um coroar de folhas de louro; pelo contrário, ser moderno exige antes partir, um partir constante em busca de um paraíso distante e anónimo de prazer. Não há quem reconheça mais o herói moderno, porque o herói moderno não é de antemão um herói, ele torna-se herói ao superar a sua própria condição humana através da arte. No poema dedicado a Maxime du Camp, Baudelaire escreve os seguintes versos: «Amer savoir, celui qu’on tire du voyage! / Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, / Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image: / Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui!» (Baudelaire, 2003: 340). Sem casa a que regressar, Baudelaire procurou na imagem do Oriente a ideia de destino; assim como, sem coroar, Baudelaire procurou na experiência da «perda de auréola», o momento em que o poeta moderno se viu sem as suas insígnias de glória. Este texto, que é hoje vital para compreendermos Baudelaire e a condição artística moderna, esteve praticamente na obscuridade até à leitura crítica de Walter Benjamin. A experiência que nele vemos descrita configura para ambos um dos momentos de maior riqueza conceptual, na qual com aparente leviandade o poeta se desfaz da aura que caiu no «lodo do macadame»:
Meu caro, você conhece o meu pavor dos cavalos e das carruagens. Ainda agora, ao atravessar a toda a pressa o boulevard, saltitando na lama, no meio deste caos movente em que a morte chega a galope de todos os lados ao mesmo tempo, a minha auréola, num movimento brusco, escorregou da minha cabeça para o lodo do macadame. Não tive coragem de a apanhar. Achei menos desagradável perder as minhas insígnias do que partir uma perna. E depois, disse para comigo, há males que vêm por bem. Agora posso passear incógnito, ser torpe e entregar-me à canalhice, como os simples mortais. E aqui me tem, igualzinho a si, como pode ver! (Baudelaire, 2007: 118).
A nova poesia não ambiciona ascender à dignidade, como o próprio frisa, porque «a dignidade aborrece-me». Aqui, Oscar Wilde aproxima-se de Baudelaire, ao afirmar que «as boas intenções em arte não têm o menor valor. Toda a arte má é o resultado de boas intenções» (Wilde, 2006: 136). A Baudelaire dava-lhe «gozo pensar que algum mau poeta a pode apanhar [a auréola], pondo-a descaradamente na cabeça» (Baudelaire, 2007: 118). Benjamin recorda que a própria substância poética se encontra no «lixo da sociedade nas suas ruas, e é também ele que lhes fornece a sua matéria heróica» (Benjamin, 2003: 81).
No conjunto de ensaios dedicados a Constantin Guys, Baudelaire observa que este «procurou por todo o lado a beleza passageira, fugaz, da vida presente, o carácter daquilo que o leitor nos permitiu chamar a modernidade» (Baudelaire, 2009: 61). A beleza moderna não procura o ideal, sobretudo aquele que reside na Natureza. Há um desprezo profundo por parte de Baudelaire por toda a arte que imita o real. Naquele que é um dos seus mais notáveis e satíricos textos, diz o seguinte sobre a maquilhagem feminina:
«a pintura do rosto não deve ser utilizada com a finalidade vulgar, inconfessável, de imitar a bela natureza e de rivalizar com a juventude. Notámos aliás que o artifício não embeleza a fealdade, podendo apenas servir a beleza. Quem ousaria atribuir à arte a função estéril de imitar a natureza?» (Baudelaire, 2009: 52).
Novamente, é curiosa a influência baudelairiana em Wilde, quando este escreve que a «Arte só começa onde acaba a Imitação» (Wilde, 2006: 127). Baudelaire sempre defendeu o artifício contra o natural, porque o artifício revela sempre uma singularidade, ao contrário do natural, que participa de uma ordem colectiva. Foucault, ao pensar sobre a Modernidade, procurou precisamente este aspecto em Baudelaire para deslocar o problema do universal para o singular, contrariando o consenso em torno de Kant. Ser singular é a derradeira exigência moderna contra os perigos da multidão, o negro das vestes, os costumes burgueses, a mecanização laboral.
No entanto, há que notar que os perigos assinalados contra a singularidade da experiência estão intrinsecamente ligados à vida na cidade. Maria Teresa Cruz observa que «a paixão da cidade e da multidão, como constituinte do artista moderno, encontramo-la constantemente na própria obra poética de Baudelaire» (Cruz, 2009: 81). «A cidade, como produto civilizacional, representa, para Baudelaire, o verdadeiro meio ambiente do homem moderno, no qual se joga realmente o destino espiritual (isto é, civilizacional, cultural e moral) da humanidade» (Cruz, 2009: 82). Mas que Paris é esta a de Baudelaire? No poema «Le Cygne», encontramos a resposta, quando Baudelaire descreve Paris nos seguintes termos: «Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas! Que le coeur d’un mortel)» (Baudelaire, 2003: 340). Somente situando Baudelaire historicamente podemos compreender porque alude ele ao carácter «plástico» da cidade.
A reforma urbana de Paris, a mando de Napoleão III, teve início em 1853 e ficou concluída um ano após a morte de Baudelaire, em 1870. Paris sofreu transformações profundas, que o próprio poeta nunca chegou a conhecer. Neste sentido, «a Paris de Baudelaire conserva ainda alguns traços dos bons velhos tempos. Havia ainda barcas cruzando o Sena nos lugares onde depois se construíram pontes. Ainda no ano da morte de Baudelaire, um empresário teve a ideia de pôr em circulação quinhentas liteiras para facilitar a vida dos habitantes mais abastados. Ainda se apreciavam as passagens, onde o flâneur não tinha de se preocupar com os veículos, que não admitem os peões como concorrentes» (Benjamin, 2005: 124). A descrição por Benjamin de algumas singularidades anacrónicas na Paris de Baudelaire advém da necessidade de explicar a origem por vezes dupla do juízo do poeta, que tanto louva a modernidade das suas avenidas, como se debate pelas tradições que resistem. Até porque Paris não sofreu de forma tão drástica como Londres os malefícios da Revolução Industrial. É difícil conceber em Paris uma atmosfera de fumo negro semelhante à dos contos de Poe, ou uma cidade onde as clivagens sociais surjam de modo tão brutal como na obra de Dickens, ou mesmo as multidões sendo reconvertidas nas massas londrinas de Engels.
«Em “Le Cygne” dá-se a ver a projecção alegórica da Antiguidade sobre Paris (na qual se sobrepõem a mudança da cidade e o inalterável que a melancolia segrega)» (Molder, 2011: 134). Tal como afirmámos anteriormente, as descrições de Baudelaire resultam sempre de uma «dupla composição»: «O belo é feito de um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é demasiadamente difícil de determinar, e de um elemento relativo, circunstancial, que será, se quisermos, de cada vez ou em conjunto, a época, a moda, a moral, a paixão» (Baudelaire, 2009: 9). A massa, portanto, nunca poderia adquirir em Baudelaire as mesmas texturas descritas por Marx, o carácter incolor, opaco, compacto e uniforme. Resta ainda uma teia luminosa, uma espécie de véu colorido, como se de um vitral se tratasse a multidão baudelairiana: «As massas eram o véu em movimento através do qual Baudelaire via Paris» (Benjamin, 2003: 119). Se este conjunto não fosse assimétrico e irregular, ao artista nada lhe restava ver, porque então o negro seria somente negro e as tonalidades do spleen desapareceriam: «La rue assourdissante autour de moi hurlait. / Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse» (Baudelaire, 2003: 212).
Nas Passagens, Benjamin parece compreender que «Baudelaire considera o mundo inteiro como um armazém de imagens e de sinais» e esses são como resíduos indiscriminados que se amontoam na rede da multidão. A função do poeta é justamente extrair destes a poesia. Baudelaire não procura na multidão qualquer tipo de subjectividade grupal; pelo contrário, usa a multidão para destacar os heróis da vida moderna que dela se erguem. Sem a multidão não haveria poesia ou individuação. As principais figuras que Baudelaire resgata dessa multidão são o dandy e o flâneur. Por razões muito diferentes, contudo, na medida em que ambos têm um modo particular de se relacionar com a multidão. A flânerie é o mergulho na multidão sem alguma vez ser parte dela; o dandismo é a atitude por excelência do snobismo aristocrático, de nunca se misturar. A exaltação por Baudelaire de tais modos de existência, sobretudo na relação com as multidões e separação delas, advém de que «não é dado a todos tomar um banho de multidão: tirar prazer da multidão é uma arte; e só pode fazer, a expensas do género humano, um regabofe de vitalidade, aquele a quem uma fada insuflou no berço o gosto pelo disfarce e pela máscara, o ódio pelo domicílio e a paixão pela viagem» (Baudelaire, 2007: 39). Há condições prévias à subjectividade, particularidades que apenas tocam os heróis da vida moderna. Mais do que uma distinção espontânea, é resultado de uma distância construída: «Multidão, solidão: termos iguais e convertíveis pelo poeta activo e fecundo. Quem não sabe povoar a sua solidão, não sabe também estar sozinho numa multidão atarefada» (Baudelaire, 2007: 39). O distanciamento é de igual modo uma característica moderna, justamente porque nos permite estar à distância certa. Sem fantasias passadas ou devaneios futuristas, o presente é o único lugar que permite ao ser moderno relacionar-se com o seu próprio tempo, capturar a sua essência, ser permanentemente intempestivo.
Ser moderno significa estar lançado no tempo negando o passado em nome do futuro, mas também reinventar para a finitude uma eternidade. Significa promover as possibilidades de realização do seu tempo ou mesmo avançá-las, como no caso da vanguarda mas, ao mesmo tempo, temer a instabilização geral do existente, da natureza ao humano. Significa navegar a hybris que a modernidade libertou para enunciar a sua liberdade face ao que é, criticando-a ao mesmo tempo como o regime de dominação pela vontade. Significa mergulhar com gozo nas multidões e resistir ao mesmo tempo ser parte das massas (Cruz, 2011: 74).
Portanto, o flâneur ou o dandy são figuras exclusivas da Modernidade, porque Baudelaire, ao dirigir-se à actualidade, não fez mais do que falar sobre essa mesma actualidade. O que há de mais notável em tais figuras é o modo como elas abarcam, mesmo na sua distinção, a conduta que ao poeta moderno se exige. Tanto o dandismo foi para Baudelaire a exigência do estar, como a flânerie o princípio do ser. Baudelaire ainda é mais preciso quando descreve ao pormenor as características prévias ao dandismo: «homem rico, ocioso e que, mesmo blasé, não possui outra ocupação para além da de correr no encalço da felicidade; o homem educado no luxo e acostumado desde a sua juventude à obediência dos outros homens, aquele, enfim, que não tem outra profissão a não ser a da elegância» (Baudelaire, 2009: 41).
Tal espécie de homens «aparece sobretudo nas épocas transitórias, quando a democracia não é ainda toda-poderosa, quando a aristocracia é apenas parcialmente chanceladora e parcialmente aviltada» (Baudelaire, 2009: 43). A distinção de um dandy consiste na «perfeição da toilette», de uma «simplicidade absoluta, que é com efeito a melhor maneira de se distinguir»; «a necessidade ardente de se dotar a si mesmo de uma originalidade, necessidade contida nos limites exteriores das conveniências». Numa frase, o dandismo «é o prazer de espantar e a satisfação orgulhosa de não ficar espantado». O dandy resulta de um constante «culto a si mesmo» (Baudelaire, 2009: 42): «O dandy deve procurar ser ininterruptamente sublime. Mesmo quando dorme deve viver como se tivesse sempre um espelho à sua frente» (Baudelaire, 1994: 97). «O dandismo é o último clarão de heroísmo nas decadências» (Baudelaire, 2009: 44). Se o dandy é um combate à «trivialidade», o flâneur é a superação dessa trivialidade.
Mas se «toda a modernidade é digna de um dia se tornar antiguidade», a condição heróica é já «a forma sublime de manifestação do demoníaco, o spleen a sua forma ignóbil» (Benjamin, 2006: 116). O que subsiste dessa modernidade é a subjectividade do poeta. «O artista só diz respeito a si próprio. Aos séculos vindouros não promete senão as suas obras. Só é canção de si próprio. Morre sem filhos» (Baudelaire, 2006: 55). Baudelaire teve ainda o sonho moderno de que «o brilho da obra de arte provém de ela tocar nos limites da vida, de estar prestes a entrar na vida» (Molder, 2011: 76), mas plenamente consciente de que o seu cantar era o cantar de um cisne («Recueillement», Les Fleurs du Mal).
Tal como afirmámos no início deste ensaio, não será por entre as ruínas que os modernos procuram a matéria de expressão, mas por entre a própria experiência arruinada: «A diferença entre Schiller e Baudelaire é a do olhar, o de Schiller à procura daquilo que sente ter perdido, o de Baudelaire, perdido no imemorial que lhe escapa, «a vida anterior», que não o salva do spleen, isto é, o passo que vai da experiência das ruínas à experiência arruinada.» (Molder, 2011: 216). Sem que restem alicerces históricos, a Modernidade é o primeiro tempo que se quer construir no presente, assumindo com temor e fascínio as consequências dessa experiência. De Baudelaire a Marx, o que há é uma vontade imensa de dissolver tudo o que é estável no ar, mesmo que isso, em última análise, possa colocar a própria experiência em causa: «não há consolação possível para quem já não pode ter acesso a nenhuma experiência» (Benjamin, 2006: 138). Como aceder então à experiência? Através da máscara, tal como Nietzsche, que travestiu a dor de Schopenhauer em riso. Também Baudelaire colocou a máscara para suportar a vida, assumindo a figura do «flâneur, apache, dandy e trapeiro […] Pois o herói moderno não é herói, representa papéis de herói. A modernidade heróica revela-se como drama trágico em que o papel do herói está disponível» (Benjamin, 2006: 98). Baudelaire precisou de ser outro para suportar a dor da vida moderna. Ao tomar múltiplas aparências na sua escrita, não se silenciou perante as adversidades da vida. Num dos seus mais belos poemas, encontramos a declaração de quem cessa e, paradoxalmente, ao escrever, continua a sua missão poética: «Comme un visage en pleurs que les brises essuient, / L’air est plein du frisson des choses qui s’enfuint, / Et l’homme est las d’écrire et la femme d’aimer» (Baudelaire, 2003: 236).
Bibliografia
BAUDELAIRE, Charles (1857), Les Fleurs du Mal, trad. port., As Flores do Mal, 2003, Lisboa, Relógio d’Água.
BAUDELAIRE, Charles (1863), Le Peintre de la Vie Moderne, trad. port., O Pintor da Vida Moderna, 2009, Lisboa, Vega.
BAUDELAIRE, Charles (1869), Le Spleen de Paris, trad. port., O Spleen de Paris, 2007, Lisboa, Relógio d’Água.
BENJAMIN, Walter (1972, 1974 e 1977), Gesammelte Schriften, trad. port., A Modernidade, 2006, Lisboa, Relógio d’Água.
BERMAN, Marshall (1982), All that is Solid Melts into Air, trad. port. Ana Tello, Tudo o que é Sólido se Dissolve no Ar, 1989, Lisboa, Edições 70.
CRUZ, Teresa (2009), Posfácio in O Pintor da Vida Moderna, 2009, Lisboa Vega.
FOUCAULT, Michel (1984), The Foucault Reader, New York, Pantheon Books.
MOLDER, Maria Filomena (2011), O Químico e o Alquimista, Benjamin, Leitor de Baudelaire, Lisboa, Relógio d’Água.
WILDE, Oscar (1891), Intentions, trad. port., Intenções. Quatro ensaios sobre estética, 2006, Lisboa, Cotovia.