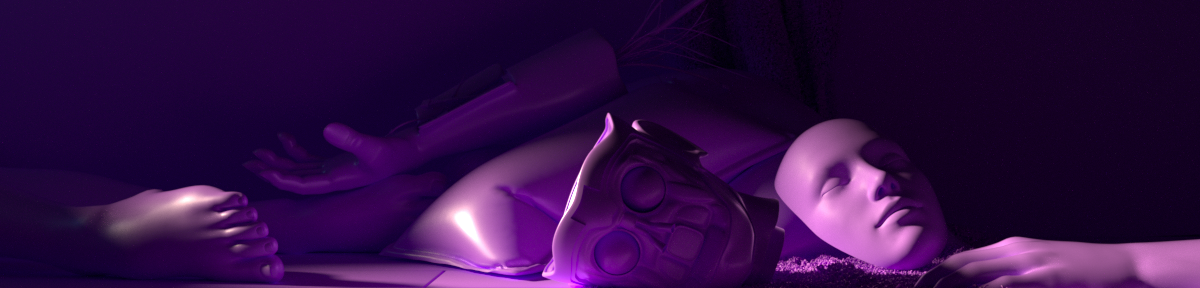A reflexão sobre o fragmento empreendida pelos escritores do primeiro romantismo alemão, como Friedrich Schlegel ou Novalis, lançou os fundamentos de um outro entendimento de obra e de autor ao pensar, pela primeira vez, a leitura como questão. Podemos mesmo afirmar que em Iena, nas páginas de Athenaeum, começou a idade da teoria. Teremos neste texto em conta o modo como o carácter de devir do fragmento que era central para estes autores, em articulação com o todo que supõem as suas concepções messiânicas da história, se mantém presente na teoria contemporânea, dando origem a novas figuras do pensamento crítico, do “désoeuvrement” de Blanchot, à “disseminação” de Derrida. Procuraremos ainda mostrar que, bem para lá da questão teórica do fragmento, um princípio geral de fragmentação afecta inúmeras práticas artísticas da modernidade.
De entre os textos que constituíram a recepção crítica recente de Athenaeum em França, L´Absolu Littéraire constituiu um momento importante. Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy mostram que o “absoluto literário” (o “todo” da literatura, a poesia entendida como género único romântico) constitui o pano de fundo onde se vão dispor as manifestações parcelares, os textos de todos os géneros e épocas. O todo adquire, desde logo, uma configuração que implica o devir, pelo que dele só podemos ter um pressentimento. Ainda que o fragmento possa ser encarado como uma pequena totalidade, não é isso que o define, pois mantém sempre uma relação tensa com o todo, de que é, de algum modo, uma imagem e que simultaneamente desloca ao entrar em diálogo com outras configurações possíveis. A significação decorre, portanto, do que está dentro e de fora do fragmento, integra não apenas a configuração actual mas também o espaço inter-relacional onde as combinações se formam e se reconfiguram. Por isso, os românticos pensaram, no fragmento, a totalidade de fora da totalidade: “O inacabamento (…) perfaz-se no fragmento enquanto tal”, como escreveram Labarthe e Nancy, porque este último vive de uma tensão irresolvida entre presença e diferimento.
Também Olivier Schefer, no seu livro Mélanges Romantiques, invocando o fragmento 116 de Athenaeum sobre a “poesia universal progressiva”, escreveu que os românticos de Iena inventaram “um conceito de obra sintética, futura, excedendo a forma finita e delimitada” (Schefer 2013, 76). Mas se, para Labarthe e Nancy, é a acepção aberta e em devir do sentido que constitui o mais importante legado dos autores do romantismo de Iena, para Schefer há uma outra consequência da sua reflexão que importa salientar, nomeadamente, a importância que adquiriu desde então o inacabado. A “poesia universal progressiva” é uma poesia em devir, sem fechamento possível, na qual o inacabado adquire o carácter programático que informa tantas das obras do modernismo.
João Barrento, na apresentação da tradução de Grãos de Pólen, de Novalis, observa que as colectâneas de fragmentos dos autores do primeiro romantismo, afastando-se das pretensões totalizantes e da fúria sistemática do idealismo, visam um pensamento de outro tipo. Assinala ainda que, se toda a prática fragmentária de alguma forma pressupõe, para se constituir, a ideia de totalidade, há contudo uma distinção que deve ser feita entre o fragmento dos românticos e o dos modernos. Para estes últimos, não se trata de erigir uma totalidade apenas pressentida pela consideração das suas ruínas ― a condição do fragmento surge associada à realização da obra, e isso explica que valorizem o esquisso, o estudo preparatório, o detalhe que se autonomiza do conjunto.
O modo como o pensamento do fragmentário se desenvolve entre os escritores do primeiro romantismo está bem patente na opção por uma escrita colectiva: o anonimato visava assegurar a universalidade da ideia de todo que era o horizonte da escrita. A obra por excelência, a obra absoluta, harmónica e universal era, para eles, a própria “vida do espírito”, na qual todos os indivíduos participam (Cf Ath. 451). E de modo análogo ao que se dá na interacção da vida material e da vida do espírito ― que numa perspectiva hegeliana não configuram esferas autónomas, pois entre o sujeito e o mundo há constante passagem, o fluxo ininterrupto do retorno a si do ser e da consciência, entrelaçados (Nancy 1979) ― também na literatura é possível entrever uma ficção de absoluto na qual o sujeito se dissolve enquanto tal, desaparecendo ou adquirindo as propriedades de uma pura energia universal.
O fragmentário engendraria a própria subjectividade: o sujeito faria corpo com a forma. Para Labarthe e Nancy, o criador romântico coincide com esse sujeito do juízo que Kant descreve, o sujeito da operação crítica por excelência, adquirindo um estatuto meramente “operatório”, à medida da finalidade da obra.
Por sua vez, Schefer observa que o dispositivo fragmentário visa a auto-produção de si como Obra-Sujeito. Não se trataria já de génio, mas de algo que o ultrapassa: o sujeito dissolve-se sacrificialmente na escrita, como Novalis, em Grãos de Polén, dá a pensar: “A poesia dissolve a existência / que lhe é estranha na sua própria” (Novalis 2006, 44 ). Ou então: “O poeta autêntico é omnisciente ― / um verdadeiro microcosmo” (45). Mas pode apresentar-se também como produzido pelo dispositivo fragmentário, ou seja, como aquele que, movido pela infinita plasticidade de uma força universal, se transforma em pura energia. Como se pode ler no fragmento 375 de Athenaeum, atribuído a Schlegel, esta energia caracteriza-se pela passividade. Ser capaz de passividade ao associar-se à energia universal é o que distingue o sujeito do romantismo: assim aprenderá a usar essa corrente de energia que o molda a si e ao universo:
O homem enérgico apenas usa o momento, está sempre pronto para isso, é de uma plasticidade infinita. Pode ter inúmeros projectos ou nenhum. Porque a energia, mais do que simples agilidade, é força activa agindo no exterior, mas é também a força universal que determina o homem por inteiro e a sua acção. (Schlegel apud Labarthe e Nancy 1978, 159-169)
Como vimos, o autor romântico não é o sujeito de nenhum cogito, no sentido em que o cogito possibilita as operações mentais necessárias a um conhecimento imediato; o sujeito de que aqui falamos está implicado no próprio devir das formas e nessa tensão irresolvida entre o fragmento e o todo que dispersa e divide. Mas o sujeito do e no fragmento é também o sujeito do witz, entendido como “a operação que distingue os incompatíveis e constrói a unidade objectiva dos compatíveis” (Labarthe e Nancy 2003, 74). Podemos portanto pensar o “estatuto operatório” do sujeito em relação com essa síntese de pensamentos heterogéneos na qual o witz consiste e que propõe um outro conceito de saber. Um saber que se desconhece, que se comunica de uma forma ignorante, substituindo a discursividade analítica e predicativa pela forma interrompida e a iluminação breve, inesperada, típica do fragmento, que aproxima entre si coisas dispersas, múltiplas, heteróclitas. A palavra francesa “trouvaille” diz bem o que está em causa, porque alude ao aspecto acidental, ocasional de uma descoberta, e aponta para essa brusca associação que se revela na confusão de um caos heterogéneo. Labarthe e Nancy lembram que os românticos pretendiam “arrancar” o witz da conversa e da vida de salão, “poetizando-o”.
Para estes dois filósofos, a intuição mais importante dos românticos de Athenaeum, o que os distingue do idealismo metafísico, é esse movimento da escrita do fragmento que simultaneamente coloca e apaga a ideia de totalidade e de acabamento. Isto anunciou algo que viria a ser formulado por Maurice Blanchot em L’Entretien Infini e em textos posteriores como Le Pas Au-Delà e em L’Écriture du Desastre.
Também para Blanchot o fragmento como género é a exposição formal de um paradoxo, no sentido em que não possui rebordo externo, limen, nem se pode fechar sobre si mesmo em função de um limite fixado a partir do seu centro. Descentrado, o fragmento deve ser compreendido em si mesmo e na relação que estabelece com os outros fragmentos do todo a que pertence. Comentando a passagem de Athenaeum em que o fragmento é comparado a um ouriço que se enrola sobre si formando uma esfera, Blanchot observa que o que distingue o fragmento nessa acepção (que reconhecemos em formas breves como aforismos, sentenças ou máximas) do fragmentário (da condição fragmentária da escrita, que é uma das exigências do neutro) é este ser justamente o que impede a obra, o que a arruína como totalidade, acabada, realizada. Nesse sentido, enquanto “désoeuvrement”, ou “desastre”, o fragmentário manifestar-se-ia melhor no discurso contínuo, que procura uma maior coerência, obrigado a reformulações constantes que corrompem o sentido inicial, impedindo o fechamento.
A exigência fragmentária, exigência extrema, é antes de mais uma forma de preguiça e de irresolução que origina o fragmento, o esquisso, o estudo: formas preparatórias, restos do que não é ainda a obra. Que uma tal exigência atravesse, comprometa e arruíne a obra que, enquanto tal, é sempre totalidade, perfeição, realização e unidade, foi o que Friedrich Schlegel, pressentindo, não conseguiu formular, ainda que por essa dificuldade que ele não resolveu não o devamos censurar, pois ainda hoje a partilhamos com ele. A exigência fragmentária está ligada ao desastre. Mas que nada de verdadeiramente desastroso exista nesse desastre, eis o que devemos aprender a pensar, sem talvez nunca o saber. (Blanchot 1980, 99)
Como manifestação do que por natureza é inacabado, o dispositivo fragmentário supõe a organicidade do texto e a abertura e devir do sentido, ao mesmo tempo que afasta o saber e surge como interrogação persistente. A crítica radical que Schlegel e o seu grupo submeteram à noção de obra, estabilizada nos limites físicos do texto e do livro e vista como resultado de um pensamento também ele finito, questiona as formas estáveis, plenas, da obra e da consciência do autor. Muito antes de no século XX se ter chamado a atenção para o papel do leitor e da leitura, em Athenaeum encontramos uma teoria da obra cujo horizonte, longe das ideias de tradição, de influência ou de cânone, pode ser visto, nos termos de Blanchot, como a inscrição no texto de um terceiro: nem o autor, nem o leitor empíricos (o neutro é sempre essa outra coisa que não é nem uma coisa nem a outra da dualidade), mas uma figura da leitura aí pressuposta.
João Barrento aproxima-se desta concepção, considerando o fragmento uma variante do ensaio: “O ensaio é um torso, e fraca a sua vontade de sistema. Atravessa-o, por isso, uma correspondente vontade de silêncio, mais forte ainda no fragmento, que é apenas uma variante sua” (Barrento 2010, 35). O texto ensaístico, impuro do ponto de vista dos saberes, aproximar-se-ia do fragmento por inventar uma espécie de contra-ordem discursiva, um outro pensamento capaz de se reformular à medida que se vai constituindo, como se a aproximação do objecto implicasse o erro e a errância. Para Barrento, o ensaio apresenta “uma configuração rigorosamente delimitada, não fechada, progredindo até ao infinito através da auto-reflexão e do desdobramento contínuo de núcleos de significação estáveis (…) no magma mutante da conceptualidade livre com que aborda os seus objectos” (47).
Apesar de tudo, Barrento fala ainda de conhecimento; para Blanchot, por sua vez, o fragmentário arruína a obra e está associado ao não-saber que acompanha todo o saber. Não é possível pensar o “desastre”, que é talvez o próprio pensamento no exterior de qualquer totalidade, errância, futuridade, interrogação e dissolução do que no saber solidificou. Por isso, como escreve, “Pensar o desastre (se tal fosse possível, mas pressentimos que o desastre é o próprio pensamento) é não possuir futuro para o pensar” (Blanchot 1980, 7). O desastre é também o dom, aquele pensamento de que só nos aproximamos sem o conseguir formular nos termos do saber:
O desastre é o dom que dá o desastre: alheio ao ser e ao não ser. Não coincide com o acontecimento (com o que acontece) ― porque não acontece, por isso não chego a esse pensamento, excepto sem o saber, sem me apropriar de um saber. Não será então a manifestação do que não se produz, do que chega sem chegar verdadeiramente, fora do ser, como que à deriva? Como um desastre póstumo?” Uma declinação de palavras em configurações errantes: “Conhecemos o desastre sob outros nomes, talvez mais felizes, declinando todas as palavras, como se pudesse haver para as palavras um todo. (Blanchot 1980, 13, 15)
Para Blanchot, a escrita literária é sempre colocada sob o signo da fragmentação, mais ou menos evidente ou marcada, mas sempre determinante para a significação. E a obra é sempre atravessada pela “ausência de obra”; é, em suma, além do que a cultura vê nela, a manifestação neutra na qual se perfaz e se incompleta, numa tensão irresolvida entre presença e diferimento. Mas no seu pensamento os textos do romantismo alemão de Iena prosseguem o seu curso, numa deriva que os faz regressar ao torvelinho do tempo que eles próprios previram.
Este processo é descrito por Walter Benjamin de um modo um pouco diferente, mas que converge na ideia de uma dissolução do sujeito implicado nas formas, ideia essa, que no limite, não é incompatível com as ideias de Blanchot e Derrida e as respectivas noções de “désoeuvrement” e de “disseminação”. Como observou Schefer, Benjamin analisa o modo como o romantismo cruza o pensamento hegeliano e as posições filosóficas de Fichte, em particular a sua ideia de que a consciência se coloca a si própria e que nisso consiste o acto por excelência do eu e a dimensão auto-reflexiva da obra. Numa segunda etapa, ultrapassado o estádio da auto-reflexão infinita (que se não pode colocar a propósito de um objecto, pois é um atributo do sujeito, um acto que o constitui enquanto tal), dá-se a dissolução do pensamento no absoluto ― o que estaria em causa seria a passagem de uma forma auto-reflexiva infinita para o absoluto artístico. Assim, Benjamin pretende demonstrar que a crítica romântica conduz da obra à consciência da obra como tarefa absoluta. Para Schefer ― que segue neste aspecto a oposição já manifestada por Arthur Danto ― uma tal perspectiva, visando essencialmente colocar a arte no plano da filosofia, tende a dissolver a obra concreta na “ideia” de obra e descura a leitura que se pode fazer das formas.
Schefer descreverá de outro modo a relação entre infinito e inacabamento pressuposta na teoria e na prática do fragmento. Procurará, a partir de Novalis, mostrar que nem sempre se dá a resolução da antítese finito/infinito num terceiro termo variável consoante o sistema de pensamento em causa: o “eu absoluto” ou o “espírito absoluto”, para mencionar duas possibilidades desta dialéctica suposta. Nos textos de Novalis, o infinito não aparece como o corolário de um processo desse tipo, mas como o mau infinito de Hegel, aquele que apenas nega o finito sem dar origem a uma progressão quantitativa ao infinito. Encontramos neles uma forma de “potencialização qualitativa”, algo como um crescimento das qualidades em germe em cada termo, que proporciona um crescimento quase orgânico do espírito. Ou seja, nesta leitura, Novalis surge como um autor em que o inacabamento é muitas vezes valorizado por si mesmo.
Schefer sugere mesmo que, em Novalis, a ideia/essência do mundo na representação não se apresenta como em Schelling onde se dá como uma síntese operada pelo símbolo (o que Schelling designa por “tautegoria”). A representação é antes entendida como o resultado de um processo infinito de (re-)simbolização, como uma metamorfose em acto nos processos de significação. Ele poria em prática uma autêntica poética estrutural do sonho, colocando aquela relação “teatralmente” nos processos de significação: sonhos anotados e passados a limpo, “narrativas sem coerência mas com articulação, como nos sonhos” (Novalis apud Schefer, 122).
A esta luz, a arte de Novalis anteciparia certos procedimentos da arte modernista, nomeadamente a escrita “dissociativa” de Samuel Beckett ou os processos de colagem de Jean-Luc Godard. Schefer observa ainda que, de Novalis a Mallarmé, o sentido da relação arte-natureza inverte-se. Para Novalis, a arte pode engendrar o objecto pela propriedade da imaginação (que designa por imaginação extra-mecânica), e por isso a arte é natureza, um fragmento do real. E em muitos dos seus fragmentos é perceptível esse princípio de equivalência entre a poesia e o mundo:
O sentido da poesia
tem muito em comum
com o sentido do misticismo.
É o sentido do que nos é próprio,
pessoal, desconhecido,
misterioso e à espera
de ser revelado,
do fortuito inevitável.
Representa o irrepresentável,
vê o invisível,
sente o insensível… (Novalis 1996, 50)
Em Mallarmé, por seu turno, o mundo existe para terminar no livro. Ao mesmo tempo, de uma forma muito sintomática, Mallarmé valorizava a fragmentação no interior do texto, como se pode ver nesta carta de 1866 a Catule Mendès: “pretendo um caracter tipográfico bastante serrado, que se adapte à condensação do verso, mas em que o ar circule entre os versos, para que eles se soltem bem uns dos outros”. E chamava ainda a atenção para a novidade em que consistiam o “espaçamento da leitura” e a “mobilidade do escrito”.
Em Mallarmé, o texto é, desde logo, também fragmentação. Entre outros aspectos, a fragmentação, que se marca no caracter tipográfico e nos espaços em branco, na descontinuidade entre os versos, designa o intervalo que permite inscrever no texto o “espaçamento da leitura”. Podemos, além disso, dizer que Mallarmé pensa uma outra acepção de fragmento que encontramos também em Barthes, para quem o fragmento é como uma “ideia musical de um ciclo” ― aquilo a que Schumann chamava “intermezzo”, a valorização do espaço intercalar, do que está de fora da obra, mas opera a ligação, permite a organização de uma sequência de fragmentos ― uma concepção musical do fragmento:
O ideal do fragmento: uma alta condensação, não de pensamento, de sabedoria ou de verdade (como na Máxima), mas de música: ao “desenvolvimento” opor-se-ia o “tom”, qualquer coisa de articulado e de cantado, uma dicção: aí deverá reinar o timbre (…). (Barthes 1975, 98)
O romantismo inventou uma maneira de pensar a obra como infinita, nunca verdadeiramente realizada, que nenhuma teoria pode esgotar, da qual nenhuma leitura será a leitura. Conduziu ainda à valorização do inacabado, ao apagar das fronteiras entre a obra e o estudo preparatório. Encontramos em Valéry uma oscilação entre, por um lado, a defesa do fragmento, forma que utilizou amiúde nos seus textos críticos, de acordo aliás com a ideia de um poema-dança como escrita poética do corpo capaz de “desarranjar” a obra; e, por outro, a rejeição da obra que se apresenta como meramente “esboçada”, como obra em potência ― o que, a seu ver, compromete a obra reduzindo-a a uma condição de ruína. Valéry defendeu frequentemente a ideia de que a obra deve ser concluída e inteira, como Pessoa, a quem o fragmento incomodava, mas que por variadas razões não conseguiu (ou não pretendeu) abandonar. No caso de Pessoa, contudo, teremos de discernir entre o fragmento-ruína ― bem distinto do fragmento romântico (que é um fragmento do real e um espelho do absoluto) ― e o fragmento intencional, embora em Pessoa a escrita do fragmento não implique uma teoria, nem a sua escrita obedeça a quaisquer princípios programáticos (ao menos explícitos). Valéry e Pessoa podem, contudo, ser vistos como herdeiros do primeiro romantismo pela valorização do papel do leitor e da leitura como o que essencialmente assegura o sentido para lá das obras (fora delas, mas nelas inscrito, nesse lugar do intercalar, do “espaçamento”), como responsável na ordenação do fragmentário, no reconhecimento do “tom”, do “ar de família”: no “intermezzo”. Em Valéry, é a leitura que recomeça e faz a obra. Em Pessoa, a leitura é indissociável da escrita, é ponto de partida (os vários universos de que parte) e ponto de chegada (pelos efeitos sobre o leitor que desencadeia: força não-aristotélica, a escrita é sempre um acto perlocucionário).
Bibliografia
BARTHES, Roland. 1975. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris: Seuil.
BLANCHOT, Maurice. 1980. L’Écriture du Désastre. Paris: Gallimard.
LACOUE-LABARTHE, Philippe e NANCY, Jean-Luc. 1978. L’Absolu Littéraire ―Théorie de la Littérature du Romantisme Allemand. Paris: Seuil.
BARRENTO, João. 2010. O Género Intranquilo ― Anatomia do ensaio e do fragmento. Lisboa: Assírio & Alvim.
NANCY, Jean-Luc. 1997. Hegel: L’Inquiétude du Négatif. Paris: Hachette Littératures.
NOVALIS, Georg Philipp. 2006. Fragmentos são Sementes. Lisboa: Roma Editora.
SCHEFER, Olivier. 2013. Mélanges Romantiques ― Hérésies, rêves et fragments. Paris: Éditions du Félin.